
Cantar os feitos sem perder as dúvidas
A escritora alemã Anne Weber escreveu uma epopeia sobre Anne Beaumanoir, activista da Resistência francesa durante a ocupação nazi, entre tantas outras coisas. Em verso livre, sem invocar musas nem divindades, Annette, Epopeia de Uma Heroína regista os feitos da sua personagem, reflecte sobre escolhas e dilemas e confirma que o velho género literário não precisa de um herói. Em Lisboa, no Goethe Institut, falou com a Blimunda sobre o seu livro e sobre a inspiração que foi conhecer Anne Beaumanoir.
Annie Beaumanoir tinha 17 anos quando começou a fazer pequenos recados para a Resistência francesa. Não o fez inconscientemente; sabia bem o que era a guerra, quem eram os nazis e o que pretendiam. O seu compromisso cresceu, as missões e as responsabilidades também. Até ao fim da II Guerra, transportou pessoas, transmitiu mensagens, distribuiu panfletos, organizou operações de fuga e ajudou a salvar a vida de várias pessoas, entre elas muitos judeus. Organizou a sua actividade clandestina no seio do Partido Comunista Francês, do qual acabou por se desvincular depois da guerra, desiludida com a pouca democracia de certos processos de trabalho e com a impossibilidade de questionar as coisas sem com isso passar a ser considerada uma inimiga. Acreditava na possibilidade de mudar o mundo, mas também de questionar tudo, inclusive a si própria.

Depois da Resistência, envolveu-se no movimento pela independência da Argélia, o que lhe valeu a prisão e o exílio. Pelo meio, formou-se em Medicina, exerceu a especialidade de neurofisiologia, fez investigação. Questionou sempre muito, mas nunca se arrependeu das suas escolhas. Morreu aos 98 anos, em Março deste ano, mas ainda leu esta epopeia que a escritora alemã Anne Weber lhe dedicou. Annette, a Epopeia de Uma Heroína (edição portuguesa da Dom Quixote, com tradução de Helena Topa) venceu o Prémio do Livro Alemão 2020, entre outros prémios. Em verso livre e procurando a cadência de um canto, Anne Weber escolheu a epopeia como género e estrutura para narrar a vida de Anne Beaumanoir, fugindo da ideia de biografia e procurando nos gestos, nos movimentos e nas dúvidas da personagem principal um modo de pensar sobre o mundo que construímos diariamente, nos momentos de convulsão social e política e nos outros.
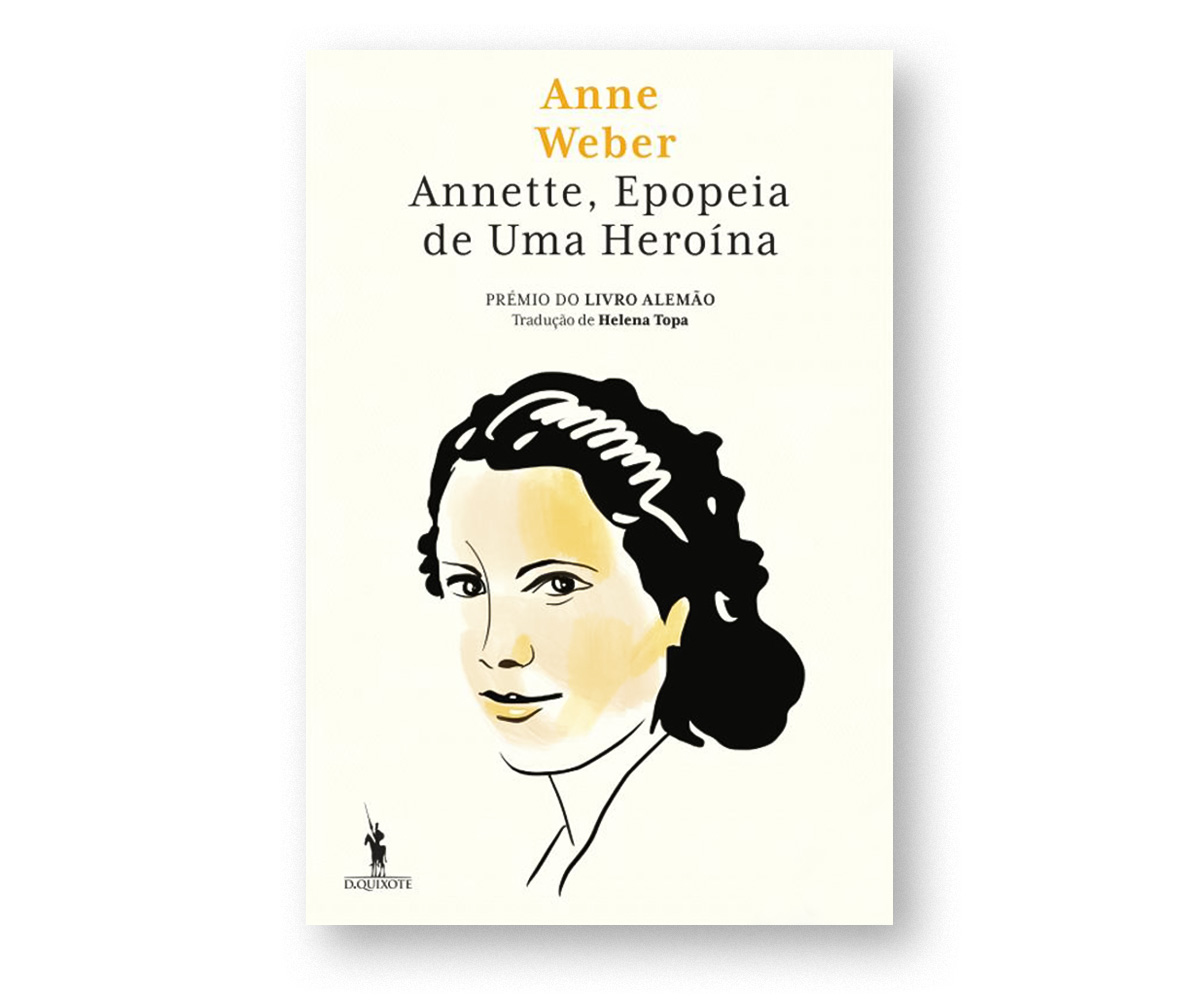
Annette, a Epopeia de Uma Heroína
Anne Weber
Dom Quixote
Tradução Helena Topa
Comecemos pelo final. A encerrar o seu livro, descreve-se o momento em que conheceu Anne Beaumanoir e decidiu que queria, de algum modo, contar a sua história. Como foi esse processo de transformar uma história de vida tão intensa em algo que não é exactamente uma biografia?
Conheci essa mulher um pouco por acaso, não estava à procura de conhecer alguém que tivesse participado na Resistência. Tropecei nela, digamos assim, e descobri-a uma mulher fascinante, pelo que quis saber mais. Não decidi dedicar-lhe um livro naquele momento, era apenas uma pessoa que eu queria conhecer melhor, sobre cuja vida queria saber mais. Mais tarde, quando li o seu livro de memórias (que foi publicado em francês há quase 20 anos [Le feu de la mémoire – La Résistance, le communisme et l’Algérie, 1940-1965, Éditions Bouchene]), percebi que era um livro muito interessante, cheio de detalhes inacreditáveis, mas ao mesmo tempo, esta mulher que tinha todas as qualidades que a mim me faltam, não era uma escritora. O livro de memórias precisava de alguma edição, havia espaço para contar aquela vida de outra forma e eu senti que devia tentar. Decidi transformar essa história não numa biografia, mas numa epopeia.
Porquê uma epopeia?
Porque era uma pessoa real que tinha ali, à minha frente, não era uma personagem… Havia muitas possibilidades, claro, e uma delas era fazer de Anne personagem de um romance, dar-lhe outro nome, partir da sua história e criar uma outra história, com um ambiente, outros factos. Mas isso parecia-me ser um modo de utilizar a sua vida para fazer algo que me convinha literariamente e isso não o queria. Por outro lado, a história de Anne era suficientemente inacreditável para que houvesse necessidade de inventar ou transformar. Para além de tudo isso, não sou biógrafa, escrevo literatura, pelo que não me interessava esse projecto. E foi aí que me lembrei desse velho género literário, a epopeia, que tradicionalmente conta os feitos, os actos heróicos, de um herói – sempre de um herói, nunca uma heroína, claro… E esse pareceu-me um meio não de contar, mas de cantar aquela vida, de lhe dar um ritmo, de me apropriar sem ficcionalizar – mesmo que me tenha dado conta, ao longo da escrita, que para contar certos factos reais, utilizamos sempre a imaginação, caso contrário seria uma sucessão de dados.
Percebeu isso ao escrever este livro?
Sim, dei-me conta quando dei a ler uma parte do manuscrito a Anne Beaumanoir e ela não se reconheceu. Disse que estava bem, que o texto era bom, mas não lhe parecia ela. E aí percebi que mesmo que não o quisesse, tinha transformado a sua história, porque tinha sido eu a escrevê-la. E mesmo os biógrafos, não inventando factos, usam a sua imaginação para estruturar a narrativa, caso contrário, não há narrativa. Estamos sempre presos a isso. A partir do momento em que há narrativa, há imaginação, há ficção num certo sentido. É por isso que a distinção que os anglo-saxónicos fazem, entre ficção e não-ficção, me parece ter pouco sentido.
As coisas são mais complexas do que isso…
Sim, um pouco mais. [risos]

Portanto, não foi difícil para si escapar a um registo biográfico tradicional?
Não, de todo. Mas é curioso, porque em Londres a editora perguntou-me precisamente porque não tinha escrito uma biografia… Suponho que seja uma questão de pragmatismo, mas eu não tenho esse método. Claro que fiz alguma pesquisa histórica, nomeadamente sobre a guerra na Argélia, mas não tinha qualquer pretensão de exaustividade, e por isso escolhi apenas alguns episódios, e não pretendia alcançar nenhuma forma de objectividade. Talvez procurasse o inverso, a subjectividade é aquilo que sublinho neste livro. Aquilo que me interessava, e que quis partilhar com os leitores, era deixar claro que a verdade não era o mais importante que teria para contar, até porque não a conheço, mas sim o meu ponto de vista sobre essa ideia que arrumamos na verdade.
A estrutura e as características da epopeia permitiram-lhe criar uma voz narradora que não apenas conta a história, mas comenta as decisões de Annette, as suas dúvidas, as suas angústias. Essa voz surgiu com essas características logo de início ou foi ganhando mais acesso a Annette ao longo do processo de escrita?
É uma voz que nunca se afirma como um “eu”, mas há uma forte presença de alguém que nos fala e que dá forma e ritmo a esta história e isso aconteceu desde o início, ainda que no início não houvesse logo essa vontade de reflectir, de colocar questões. Mas espero que essa voz não seja lida como intrusiva, porque não quis forçar o meu ponto de vista na narrativa, pareceu-me mais honesto não criar essa ilusão de objectividade da biografia, essa ilusão romanesca. E às vezes, quando sabemos que um texto é baseado numa história real, criamos essa ideia no leitor, e isso era algo que eu não queria que acontecesse. Esta é uma voz que narra e fala, mas não é a voz da verdade.
A personagem de Annette debate-se com muitas questões éticas, políticas, que são fundamentais para pensar sobre o século XX, talvez sobre todos os séculos. São questões que já a interessavam antes de conhecer a história de Anne Beaumanoir?
Sim, certamente. O colonialismo, o imperialismo alemão antes e durante a guerra, a vontade de dominar uma série de países… Um dos meus livros anteriores, Vaterland, palavra alemã que significa “pátria”, é uma espécie de viagem ao tempo e à pessoa do meu bisavô, que morreu em 1924, e às gerações seguintes, do meu avô e do meu pai, que também têm um papel na história. O meu avô, que foi um nazi, o meu pai, que tinha 17 anos quando a guerra acabou e que esteve nas Juventudes Hitlerianas, e o meu bisavô, que era amigo de vários judeus. Enfim, foi um modo de mergulhar na história recente da Alemanha e em temas que sempre me interessaram. Neste livro, esse mergulho foi mais amplo, abrangendo a história recente alemã, mas também francesa, e também argelina.

Neste livro há uma espécie de conflito entre a esperança e a desilusão.
Sim, há algo que me fascina na Anne Beaumanoir: apesar de todas as desilusões, ela nunca deixa de acreditar, nunca perde a coragem de acreditar, de ter energia para lutar, para prosseguir. Ela acompanhou através de amigos argelinos o que se foi passando na Argélia até ao início do confinamento, em 2020, com as manifestações, etc., e acreditou sempre que havia forma de melhorar as coisas, de lutar contra as injustiças. Para mim, é um mistério essa força. Sobretudo porque ela lutou pela independência da Argélia, conheceu muita gente que morreu por essa causa, e depois viu o país transformar-se num regime militar… Portanto, sim, há esse conflito ao longo do livro, mas na verdade é sempre a esperança que predomina.
Annette é a heroína desta epopeia, porque está no centro da acção e é também alguém que duvida, que questiona, que se sente impotente perante certas coisas, à semelhança dos heróis das epopeias, mas Annette nunca se afirma como uma heroína, não se vê a si própria desse modo. Contrariar essa imagem de Annette sobre si própria foi algo que a interessou do ponto de vista literário?
Creio que para nós, alemães, o conceito de herói pode ser um pouco diferente… Na nossa cultura é algo problemático, porque o herói, o heroísmo, foram coisas tão pervertidas no século XX, com o nazismo, que se tornou difícil utilizar essa palavra. No livro, a palavra “heroína” só aparece no título, e aí é uma alusão ao género literário, à epopeia e ao facto de as personagens serem transformadas em lenda, sim, mas não do mesmo modo que o culto do herói na Alemanha transformou outras personagens. Ainda assim, feitas todas estas ressalvas, para mim Annette é uma heroína, sobretudo por aquele primeiro gesto de resgatar os dois adolescentes judeus, pondo a sua vida em risco para os salvar [em 1944, em Paris, Anne Beaumanoir ignora as ordens da Resistência contra acções individuais e assume a responsabilidade de esconder dois adolescentes judeus que se escondiam, com os pais e um irmão bebé, numa casa que se sabia ir ser alvo de uma rusga]. Isso é algo que me parece extraordinário e realmente heróico. Ela era uma miúda nessa altura e sabia que a sua vida estava em risco!
Annette, a personagem, bem como Anne Beaumanoir, a pessoa, têm uma dimensão que podemos definir como trágica, lutando por algo que nunca se materializa completamente. No livro, uma das ideias que se desenvolve é a de que o futuro é o único lugar onde as decisões poderiam ser tomadas de modo consciente, plenamente informado, mas claro que estamos condenados a viver no presente. No entanto, a sua escrita nasce nesse futuro, quando já conhecemos as consequências de certas escolhas.
A verdade é que a própria Anne pôde ter essa visão no futuro, pelo facto de ter vivido tantos anos e de ter sabido olhar para as coisas à distância, colocando-as em perspectiva. Ainda assim, claro, quando fez as suas escolhas não sabia como as coisas iam correr. Portanto, foi um privilégio que ela também teve, de algum modo. Portanto, essa dimensão trágica existe, sobretudo quando pensamos no facto de ela ter decidido – se lhe podemos chamar uma decisão – manter-se afastada da sua família, dos seus filhos, para os proteger. Isso terá sido algo muito doloroso, realmente trágico.
A sua escrita acontece entre dois idiomas, o francês e o alemão. Isso é definidor para a sua forma de escrever?
Não sei se é definidor para aquilo que escrevo, para a literatura propriamente dita, mas é-o para o meu modo de trabalhar. Tornou-se o meu método. Muitas vezes, quando estou a escrever a versão francesa, a alemã ainda não foi publicada e isso permite-me regressar a ela e alterar coisas. Quando traduzimos, apercebemo-nos de tudo o que está mal…
E o método é sempre esse, escrever em Alemão e depois escrever a versão francesa?
Agora, sim. Nos dois primeiros livros foi ao contrário, escrevi primeiro em francês e depois escrevi a versão alemã. Nessa altura, já vivia em França há alguns anos e comecei a escrever em francês, porque foi em francês que as palavras me saíram. Quando o primeiro livro em francês foi publicado, os meus familiares e amigos na Alemanha reclamaram, porque não podiam ler o livro, nem sabiam de que falava, então escrevi a versão alemã e foi publicada. Depois de dois ou três livros, voltei a escrever em alemão.
Porquê?
Não sei, não creio que tenha decidido isso, ou que possa encontrar esta ou aquela razão, simplesmente foi assim.
Essa expressão numa outra língua que não a língua materna acaba por ser uma outra forma de ver o mundo?
Sim, acredito que o pensamento e a escrita numa determinada língua dão forma ao modo como vemos o mundo, ainda que não tenhamos consciência disso quando escolhemos usar outra língua. Houve um momento em que as palavras alemãs me pareciam pesadas, e talvez ainda pareçam, não por serem em alemão, mas porque a língua materna é sempre mais pesada, são as palavras da infância, têm todo esse peso. Com o francês, não tive de enfrentar esse peso, mas agora voltei a escrever em alemão.
E o livro foi bem recebido na Alemanha, distinguido com o Prémio do Livro Alemão 2020.
Sim, foi muito bom, e algo surpreendente. Não esperava esta recepção, sobretudo quando escrevi um livro com esta estrutura, em verso.
Porquê?
Quando apresentei o manuscrito a primeira vez a uma editora alemã, foi recusado e disseram-me que seria um livro difícil de vender.
Por estar escrito em verso?
Não mo disseram, mas creio que esse seria o motivo. De qualquer modo, é uma narrativa linear, começa pelo nascimento e percorre a vida desta mulher. Há coisas muito mais complicadas em tanta literatura moderna, com a mudança de perspectivas, de tempos… enfim, os versos não impedem essa linearidade.
