
A poesia de Louise Glück
«Al tratar Troya se cuestiona
si la guerra es un pasatiempo masculino, ‘un juego pensado para eludir cuestiones profundas espirituales’».
No suplemento Babelia, do diário espanhol El País, Andrea Aguilar assina um texto sobre a poesia de Louise Glück, a mais recente distinguida com o Prémio Nobel da Literatura, um galardão que a Academia Sueca lhe atribuiu «pela sua inconfundível voz poética que, com austera beleza, torna universal a existência individual», como se lia no comunicado que acompanhou o anúncio do prémio. No texto de Aguilar, percorrem-se os vários livros da poeta norte-americana, traçando-se algumas linhas temáticas e estilísticas e cruzando a biografia com a escrita. «Los versos de Glück no son confesionales, aunque su vida y su biografía latan ahí mismo. Nacida y criada en un suburbio de Long Island, su padre, —una presencia velada y recurrente en sus poemas a quien define como “plomo” atado a los tobillos de su madre—, inventó un cuchillo, un detalle que como han apuntado varios críticos parece tener un sentido especial tratándose de una poeta que tan bien disecciona el mundo. Estudió en Sarah Lawrence y en Columbia, pero no se graduó en ninguna de las dos prestigiosas universidades. Padeció anorexia nerviosa y tiene un poema titulado “Dedicación al hambre”. El mundo clásico y los mitos —como ocurre con otra de las grandes poetas norteamericanas Anne Carson— han sido uno de sus grandes temas. Al tratar Troya se cuestiona si la guerra es un pasatiempo masculino, “un juego pensado para eludir cuestiones profundas espirituales”. Glück es capaz de narrar la historia, de acercarla y alejarla e introducir crítica, reflexión y sentimiento.»
Coragem e medo
«Poucas coisas têm sido tão necessárias quanto a coragem, aliás, num mundo que faz do medo e da morte suas faces mais frequentes».
A partir de uma história de Eduardo Galeano sobre o medo e o seu modo de nos invadir, o escritor brasileiro Julián Fuks assina a sua habitual crónica no site UOL, reflectindo sobre o presente de todos os medos e sobre a necessidade de clarificar alguns conceitos, para não nos perdermos de vez: «A vida, o que ela quer da gente é coragem, citaríamos a mais célebre frase de Guimarães Rosa e cairíamos na estrada, dispostos a retomar tudo o que nos roubou o inexorável medo da morte. Mas não, os tempos simples, os tempos heróicos, se alguma vez existiram, já pertencem ao passado. Hoje, sair ou não sair da gaiola pressupõe um cálculo complexo de riscos pessoais e comunitários, cujo resultado final envolve o dano possível que infligiremos ao outro no ansiado exercício da nossa liberdade.» A coragem parece precisar de um incentivo, mas talvez mais importante seja precisar o que se entende por coragem, em vez de confundir ideias que promovem mais violência do que garantem igualdade: «Coragem é mais uma entre as palavras que perdemos num debate público que insiste em se brutalizar. Tornou-se bordão vazio de empreendedores, ou exortação repetida ao infinito por intrépidos conselheiros motivacionais. Em sua pior face, tornou-se algo mais atroz: é a palavra que impera no autoelogio dos desbocados, dos prepotentes, dos despóticos. Creem-se corajosos os que alardeiam velhos dizeres preconceituosos, os que emprestam sua voz à replicação de equívocos históricos, realizando com sua falsa coragem nada mais que a propagação do medo. É o ponto exato em que a coragem se converte em opressão, em que coragem e covardia se tornam uma coisa só, indiferenciável. Mas não, não é aceitável que o termo se deixe assim conspurcar, não cabe abdicar sem luta de uma palavra forte e valiosa. Poucas coisas têm sido tão necessárias quanto a coragem, aliás, num mundo que faz do medo e da morte suas faces mais frequentes — ou, mais precisamente, num país que adotou o medo e a morte como políticas de Estado. Cumpre, então, estabelecer a clara distinção entre coragem e violência, entre coragem e irresponsabilidade.»
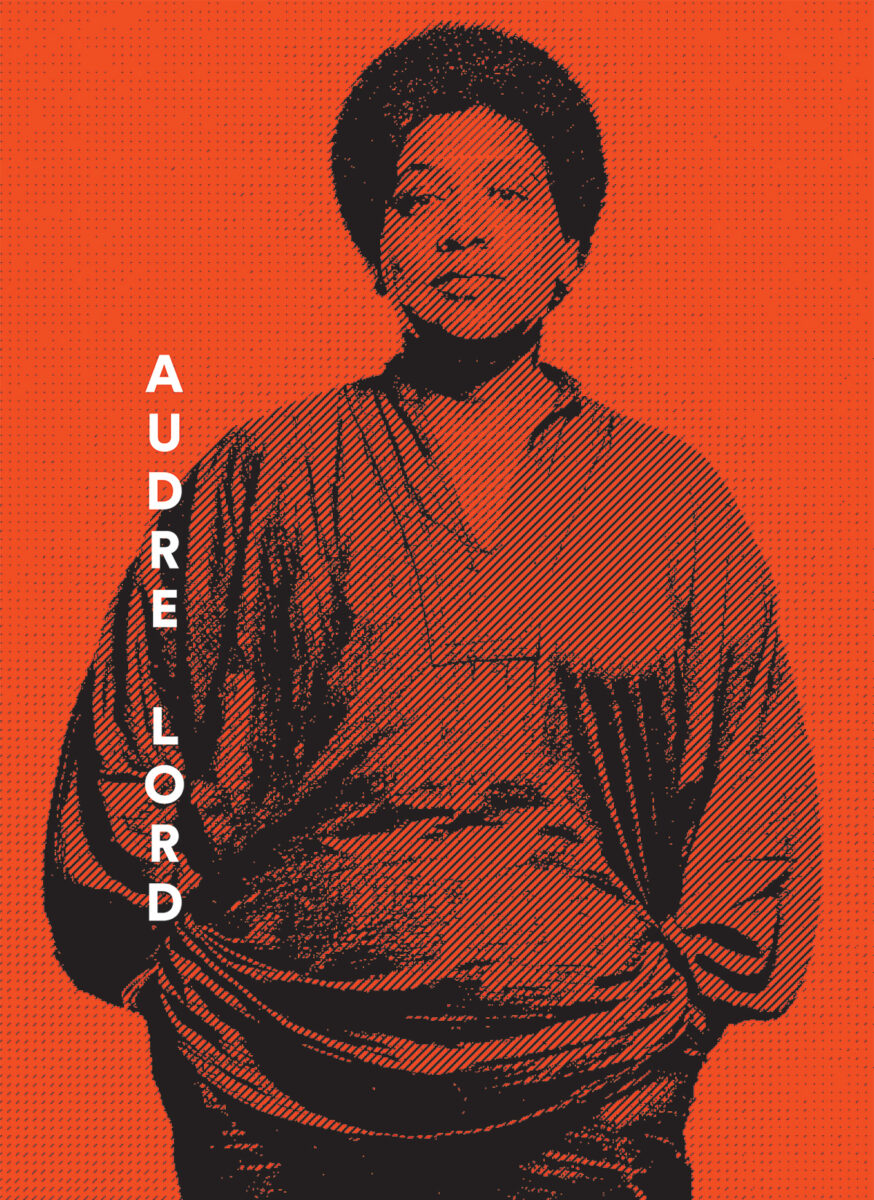
Audre Lord no Brasil
«Precisamos dizer quem somos com nome e sobrenome, como nos ensinou Lélia Gonzalez, para que o racismo não nos nomeie como João urubu, chocolate, nega fulana, Maria preta».
Uma das últimas edições do suplemento cultural brasileiro Pernambuco dedica o tema de capa a Audre Lord e Cidinha da Silva escreve sobre a recepção crítica desta autora no Brasil, onde as primeiras traduções surgiram no início deste século. «A propósito, Jess Oliveira, uma das várias profissionais negras convidadas pelas editoras Bazar do Tempo, Elefante, Relicário e Ubu para chancelar as publicações, afirma na apresentação de A unicórnia preta, volume traduzido por Stephanie Borges, ser “imprescindível que recebamos a poesia de Lorde como continuidade e extensão de nossos legados na diáspora”. E prossegue: “Audre é nossa irmã, não uma grande novidade do norte, tampouco um produto editorial”. Compreendo a intenção do discurso afirmativo, principalmente no que concerne à crítica à transformação de autoras insurgentes como Lorde em “produto editorial”, da mesma forma que conseguiram transformar a comunista Angela Davis em ídolo pop durante sua passagem pelo Brasil em 2019; contudo, assinalo um descuido no entendimento da hierarquia não opressora, aquela precedência no tempo que configura autoridade e que aceitamos com naturalidade. O trabalho artístico e o pensamento de Audre Lorde, tal como o pensamento de Lélia Gonzalez, Luiza Bairros, Beatriz Nascimento, Clementina de Jesus, Carolina Maria de Jesus, Maria Firmina dos Reis, Ruth Guimarães, Ivone Lara, Jovelina Pérola Negra, Iyá Stella de Oxóssi, Tereza Santos, Makota Valdina, Mercedes Batista, Marlene Silva, Mãe Beata de Yemonjá, Elizeth Cardoso, e das que ainda estão entre nós, como Sueli Carneiro, Leda Maria Martins, Assata Shakur, Angela Davis, Bell Hooks, Ochy Curiel, Denise Ferreira da Silva, Conceição Evaristo, Alaíde Costa, Léa Garcia, Leci Brandão, entre outras, não são “continuidade e extensão de nossos legados na diáspora”. São fundamento. Elas são as raízes a partir das quais nós, mulheres negras mais jovens de diferentes gerações, brotamos. Nós é que somos a continuidade e extensão do legado delas na diáspora, um legado que, repito, é fundamento.» O ensaio, longo e muito documentado, percorre as muitas dimensões da obra de Audre Lord, com elas dialogando a partir das muitas realidades brasileiras, sempre com os movimentos sociais em pano de fundo: «Precisamos ler Audre Lorde porque ela nos ensina o fundamento da autodefinição. Nós, mulheres negras, devemos dizer ao mundo quem somos, não o contrário. Nesse mundinho de disputas de representatividade, digo, de caçada às pessoas representativas que legitimem os novos projetos do pensamento velho que ocupa lugares de poder e decisão, essa lição faz ainda mais sentido. Nesses tempos e lugares precisamos dizer quem somos com nome e sobrenome, como nos ensinou Lélia Gonzalez, para que o racismo não nos nomeie como “João urubu”, “chocolate”, “nega fulana”, “Maria preta”. Cumpre-nos, também, definir como devemos ser apresentadas, por meio das credenciais relevantes para nós mesmas e não para os interesses dos interlocutores que se locupletam de nossa presença preta em certos lugares.»
Pandemia e desigualdades
«O Brasil concentra 77% das mortes de gestantes e puérperas pela doença registradas no mundo. O risco de morte das mulheres negras tem sido quase duas vezes maior do que o das brancas».
Na revista brasileira Quatro Cinco Um, Márcia Lima escreve sobre o modo como a pandemia de COVID-19 tem sido um elemento intensificador de desigualdades há muito presentes. Dois excertos: «Esse cenário distópico tem nos levado a apresentar alguns dos piores indicadores internacionais relacionados à pandemia.
Soa como um projeto de manutenção das desigualdades sociais construídas de forma interseccional: raça e etnia, classe e território, gênero e sexualidade se intercruzam na produção das desigualdades sociais e na distribuição de poder na sociedade. Na condição de quem investiga, leciona e escreve há trinta anos sobre a temática das desigualdades raciais e de gênero no Brasil, vejo-me perplexa. Essa perplexidade vem do fato de que, mesmo diante de mais de 100 mil mortes, o projeto em curso
vem para tornar ainda piores essas desigualdades. Essa conjuntura destacou as fragilidades do acesso à saúde
no país, especialmente dos mais pobres e negros, mostrando os impactos da pandemia sobre nossas desigualdades. Mas não se trata apenas da esfera da saúde. Os âmbitos do trabalho, da educação, da renda, da violência doméstica e da violência policial têm revelado e aprofundado nossas desigualdades.»
«A interface raça, gênero e saúde revelou inúmeras situações dramáticas, uma delas na saúde reprodutiva. É digna de nota a reportagem da jornalista Claudia Collucci, publicada em julho na Folha de S. Paulo, que demonstra que o Brasil concentra 77% das mortes de gestantes e puérperas pela doença registradas no mundo. Com esse estudo, concluiu-se que o risco de morte das mulheres negras tem sido quase duas vezes maior do que o das brancas. O tema da saúde reprodutiva sempre foi item de destaque na agenda das feministas negras. Demandas por políticas de equidade racial no SUS são de longa data. Entretanto, alguns avanços — como a inclusão do quesito raça/cor nos repositórios de informações do sus e a criação do Programa Nacional de Saúde Integral da População Negra — são limitados pelo processo de implantação e gestão das políticas, como, por exemplo, os problemas de subnotificação. As desigualdades materiais — relacionadas a acesso a produtos e recursos — são as que mais se evidenciam em análises e pesquisas sobre o tema. Circunscritos ao mercado de trabalho e à renda, os resultados das investigações demonstram que as clivagens étnico-raciais e de gênero aumentam a vulnerabilidade desses grupos, em especial das mulheres negras.»