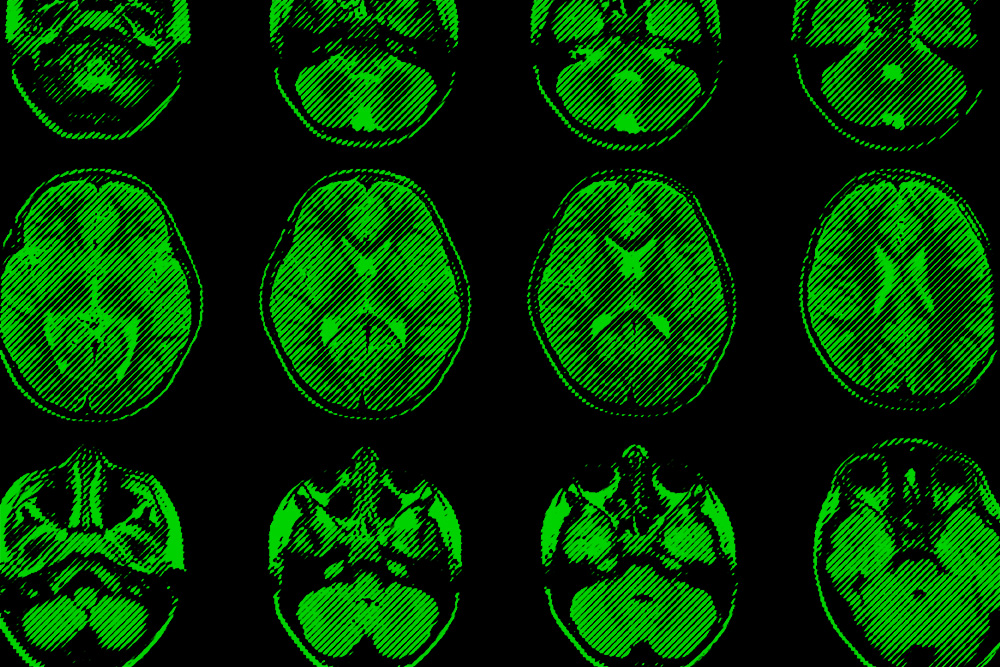
Uma mão cheia de distopias
Chegou às livrarias uma edição de bolso de Kallocaína, de Karin Boye, e com ele percorremos uma série de outras distopias, livros onde a esperança não abunda, mas onde cada página é um convite à reflexão sobre o mundo em que vivemos. Se dessa reflexão nascerá um futuro menos sombrio, talvez já não caiba aos leitores actuais responder.
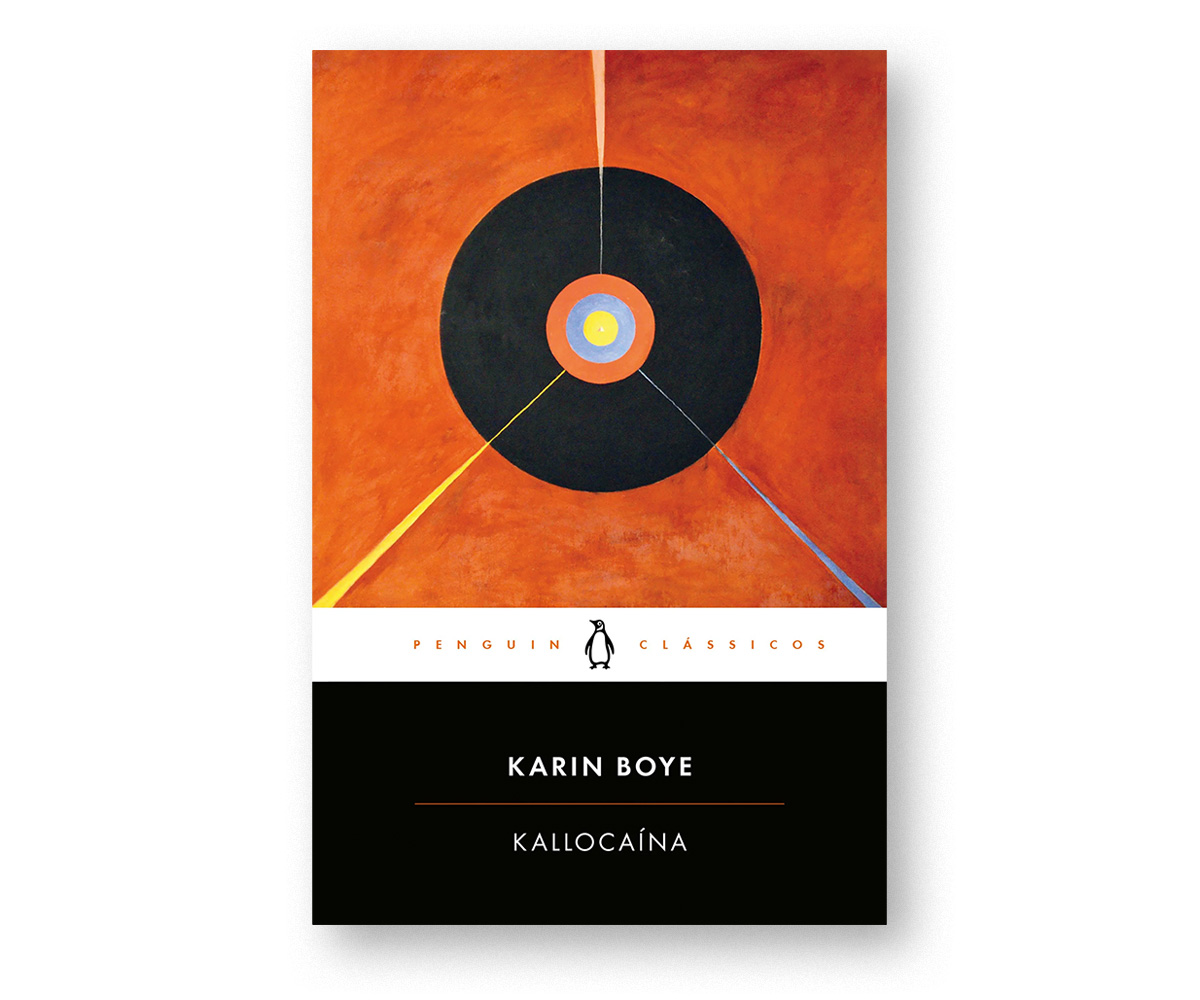
Kallocaína
Karin Boye
Penguin Classicos
Tradução de Ivan Figueiras
– As denúncias têm vindo a aumentar incessantemente nos últimos vinte anos – comentou o Rissen. – Foi o próprio chefe da Polícia quem me deu essa informação.
– Mas isso não significa necessariamente que a criminalidade tenha aumentado – redargui. – Pode também ter sido a lealdade que aumentou, a sensibilidade para detectar a podridão…
– Significa que o medo aumentou – disse o Rissen com uma energia inesperada.
– O medo?
– Sim, o medo. Temos caminhado para uma vigilância cada vez mais apertada, que não nos deixou mais seguros, como esperávamos, mas mais ansiosos. Com o medo, cresce também o nosso impulso de atacar quem nos rodeia. Não é assim? Quando um animal selvagem se sente ameaçado e não vê nenhuma possibilidade de fuga, passa ao ataque. Quando o medo se insinua em nós, não resta mais nada senão desferir o primeiro golpe. É difícil quando nem sequer sabemos em que direcção o desferir… Mas mais vale prevenir do que remediar, não é o que diz o ditado? Se atacarmos com frequência e habilidade suficientes, talvez consigamos salvar-nos.
(pg.129/130)
O trecho é de Kallocaína, romance da autora sueca Karin Boye que a Penguin Clássicos acaba de editar, com tradução de Ivan Figueiras. É nesta passagem que começa a confirmar-se que Leo Kall, o inventor da poderosa substância que dá título ao livro e que faz com que qualquer pessoa confesse todos os seus pensamentos, está a vacilar na sua obediência cega aos princípios do Estado Mundial.
Nesta distopia, sem espaço e tempo definidos, reconhecem-se os sempre imutáveis mecanismos autoritários que atravessam esta e outras leituras distópicas, bem como a imponência do medo, ferramenta suprema para tudo controlar. E apesar de o eixo central do enredo assentar nessa substância, criada em laboratório e rapidamente adoptada pelo governo e as suas estruturas de modo a detectar qualquer vestígio de oposição, descontentamento ou desconfiança dos cidadãos para com o Estado, a narrativa tem na sua estrutura o lento e conturbado processo de mudança pelo qual passa Leo Kall. Esse homem, cientista e devoto cumpridor de todas as normas governamentais, verá as fundações da sua obediência cega serem paulatinamente corrompidas, não por qualquer “agente externo” – ainda que o seu colega Rissen contribua para o processo – ou por uma acção propagandística, mas antes pelo reconhecimento de que as ligações afectivas são essenciais para a existência. Ou, pelo menos, para uma existência com sentido e profundidade.
A ideia de que a individualidade é um crime a evitar, propagada pelo Estado como se de uma lei natural se tratasse, permite alimentar fantasias de uma sociedade extremamente organizada e capaz de funcionar, dia após dia, exactamente da mesma forma, mas essa existência maquinal não é compatível com a natureza humana. O Estado bem o sabe, e não se incomoda com desumanizações, desde que a máquina prossiga bem oleada, mas não conta – nunca conta – com a possibilidade de haver quem prefira outras formas de viver. E conta ainda menos com a hipótese de vários dos seus concidadãos mais aparentemente cumpridores sentirem, apesar de toda a auto-repressão que se impõem, essa urgência de ligação que não cabe em fórmulas e regras. Leo Kall precisou de inventar uma droga da verdade para se confrontar com isso e parte da amarga ironia de Kallocaína está aí, bem como no facto de ser já tarde demais para evitar os vários desfechos que a narrativa vai engendrando. Apesar disso, o romance de Karin Boye não deixa de conter alguma esperança, senão para os protagonistas que acompanhamos, pelo menos para uma ideia de futuro. Lembremos que Kallocaína foi originalmente publicado em 1940, antes, portanto, da incursão de George Orwell nas distopias, e as reflexões que guarda nas suas páginas não só reflectem intensamente a sua época – já com a II Guerra a decorrer – como mantêm toda a pertinência hoje, quase um século mais tarde, confirmando que todas as invenções distópicas nunca bastaram para nos impediram os erros colectivos, nem as suas consequências.
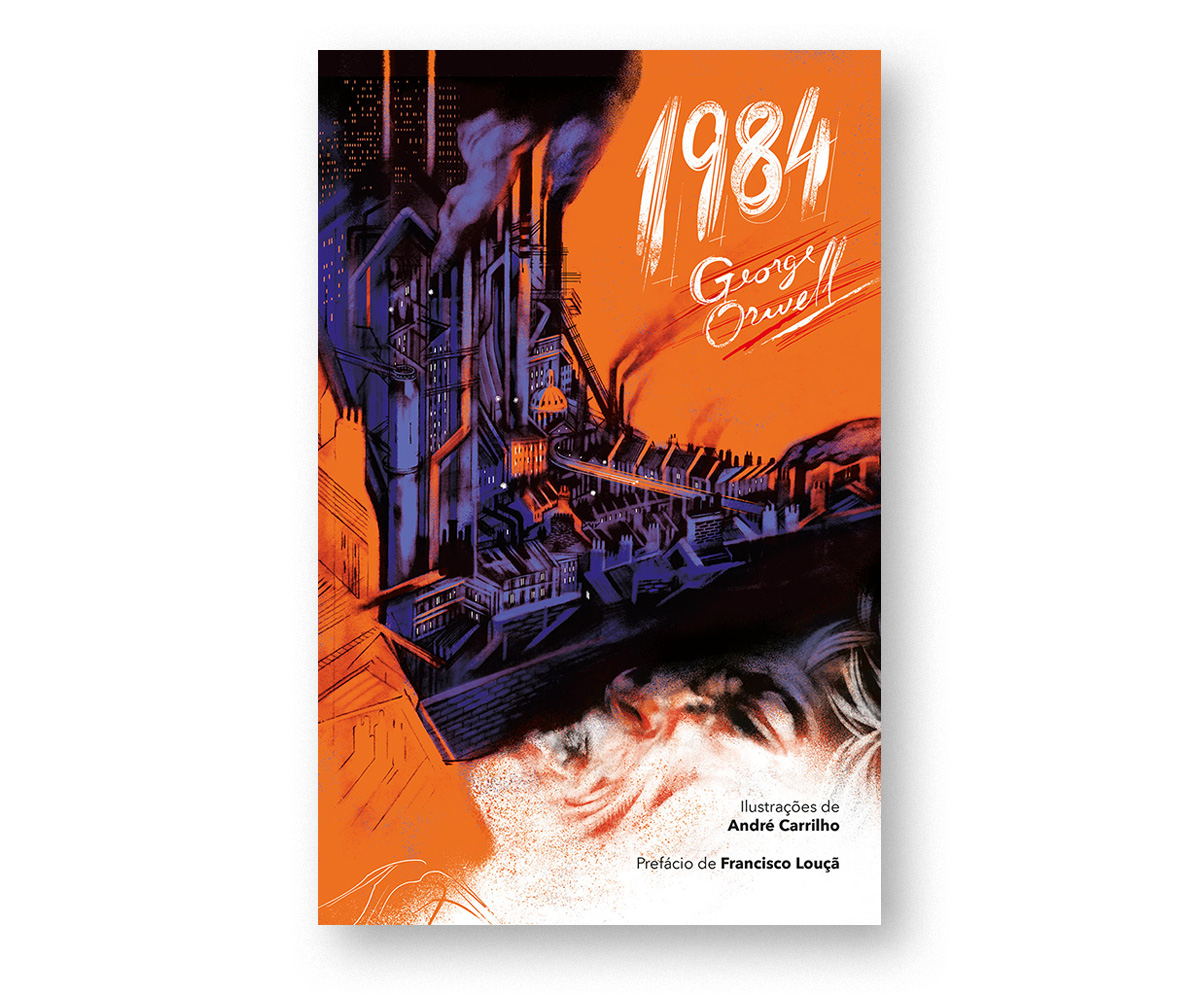
1984
George Orwell
Tradução de Cristina Vaz
Capa e ilustrações de André Carrilho
Bertrand
Futuro é coisa que todos os autoritarismos procuram arredar do quotidiano de quem dominam. Claro que não falta uma promessa de que o amanhã exista, mas esse amanhã será sempre igual ao ontem, uma repetição maquinal de todas as engrenagens que asseguram a imutabilidade, mesmo que a História confirme que imutabilidade não é característica da espécie humana, nem das suas realizações sociais. Talvez por isso a História seja sempre reescrita, rasurada e alterada por regimes autoritários, os reais e os imaginados por romancistas. Em 1984, essa reescrita da História é levada a um extremo caricato, ainda por cima com recurso a uma novilíngua que tenta apagar da própria forma de expressão a possibilidade de contar outra coisa que não a permitida pelo Estado. Originalmente publicado em 1949, o romance que deu origem a adaptações e revisitações várias – no cinema, na banda desenhada, noutros livros – é um retrato detalhado de um Estado totalitário que baseia o seu controle numa polícia do pensamento e numa propaganda intensa e omnipresente.
Vigilância constante, repressão e negação de tudo o que possa questionar o sistema são os pilares desta distopia onde não é difícil reconhecer estruturas e mecanismos comuns ao regime nazi e ao estalinismo, dois alvos óbvios de Orwell nesta saga. Confirmando a veia visionária de Orwell, também não é difícil reconhecer algumas formas de controlo do pensamento e das interacções sociais que encontramos, hoje, em diferentes geografias, nem todas muito distantes.
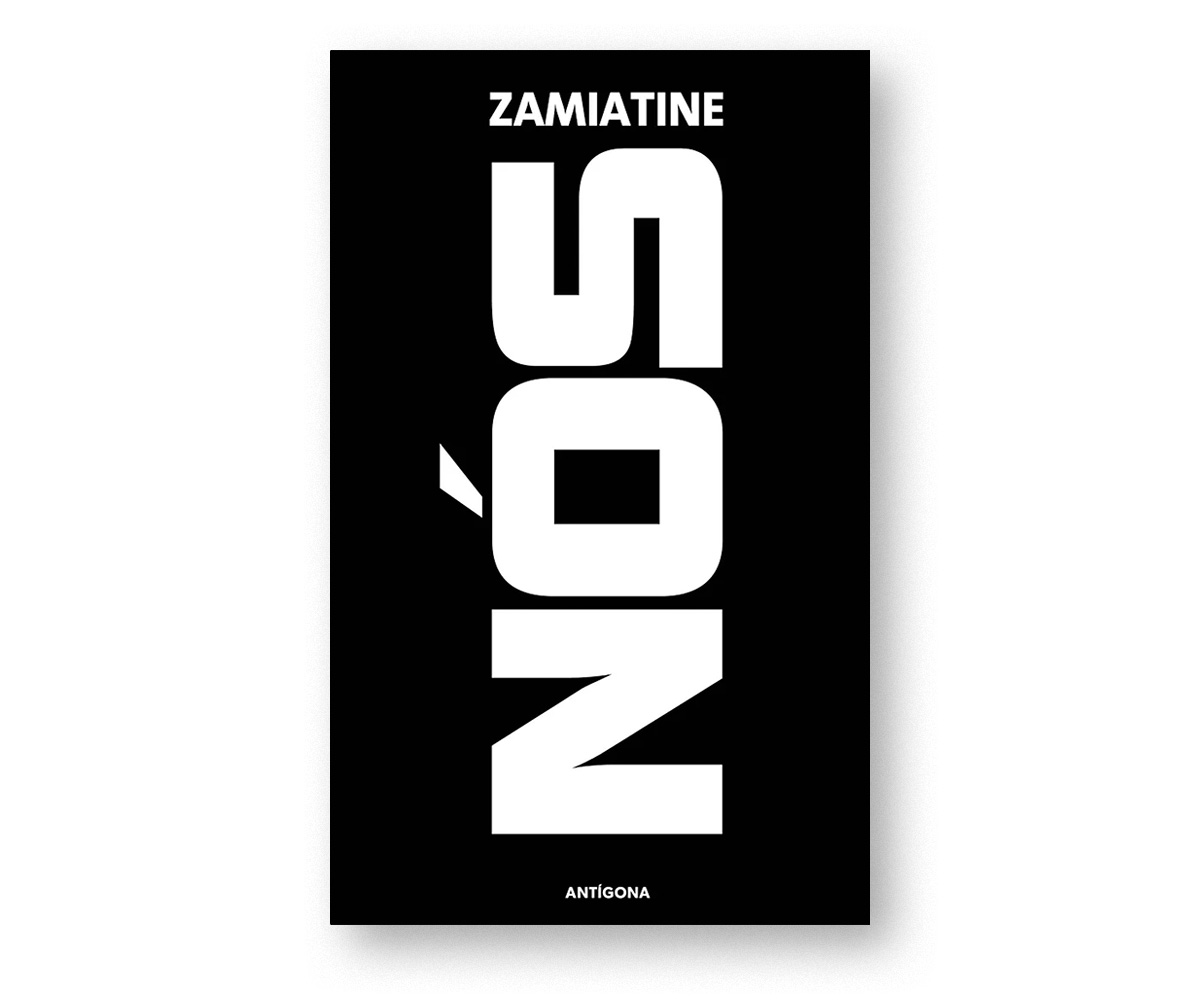
Nós
Evgueni Zamiatine
Tradução de Manuel João Gomes
Antígona
Mais de duas décadas antes de Orwell, em 1920, o russo Evgueni Zamiatine assina um romance cuja primeira edição foi uma tradução para inglês. No espaço soviético, só em 1952 Nós haveria de ter publicação autorizada. O foco de Zamiatine não é tanto um futuro que se vai insinuando em ameaças, mas antes a descrição de uma sociedade que, situando-se cronologicamente num futuro longínquo, surge como presente, inevitavelmente reflectindo muitos dos mecanismos de controlo do regime soviético, e onde a ideia de colectivo se impõe de modo tão violento que acaba por afirmar-se como uma individualidade, uma espécie de entidade suprema à qual todas as vontades individuais, todos os sonhos e todos os desejos devem submeter-se sem questionamentos ou estados de alma.
Nós ilustra essa imposição do colectivo em detalhes como os apartamentos de paredes transparentes, as relações sexuais com dia e hora marcados – único momento em que é possível fechar uma persiana e ter alguma espécie de privacidade – ou os uniformes que toda a gente é obrigada a usar, apagando qualquer traço de individualidade. Esse “nós” que terá sido, lá no início, uma ideia alimentada contra o egoísmo e por uma sociedade onde a igualdade de oportunidades fosse uma realidade, redundou num terrível torno capaz de esmagar qualquer ideia de indivíduo.
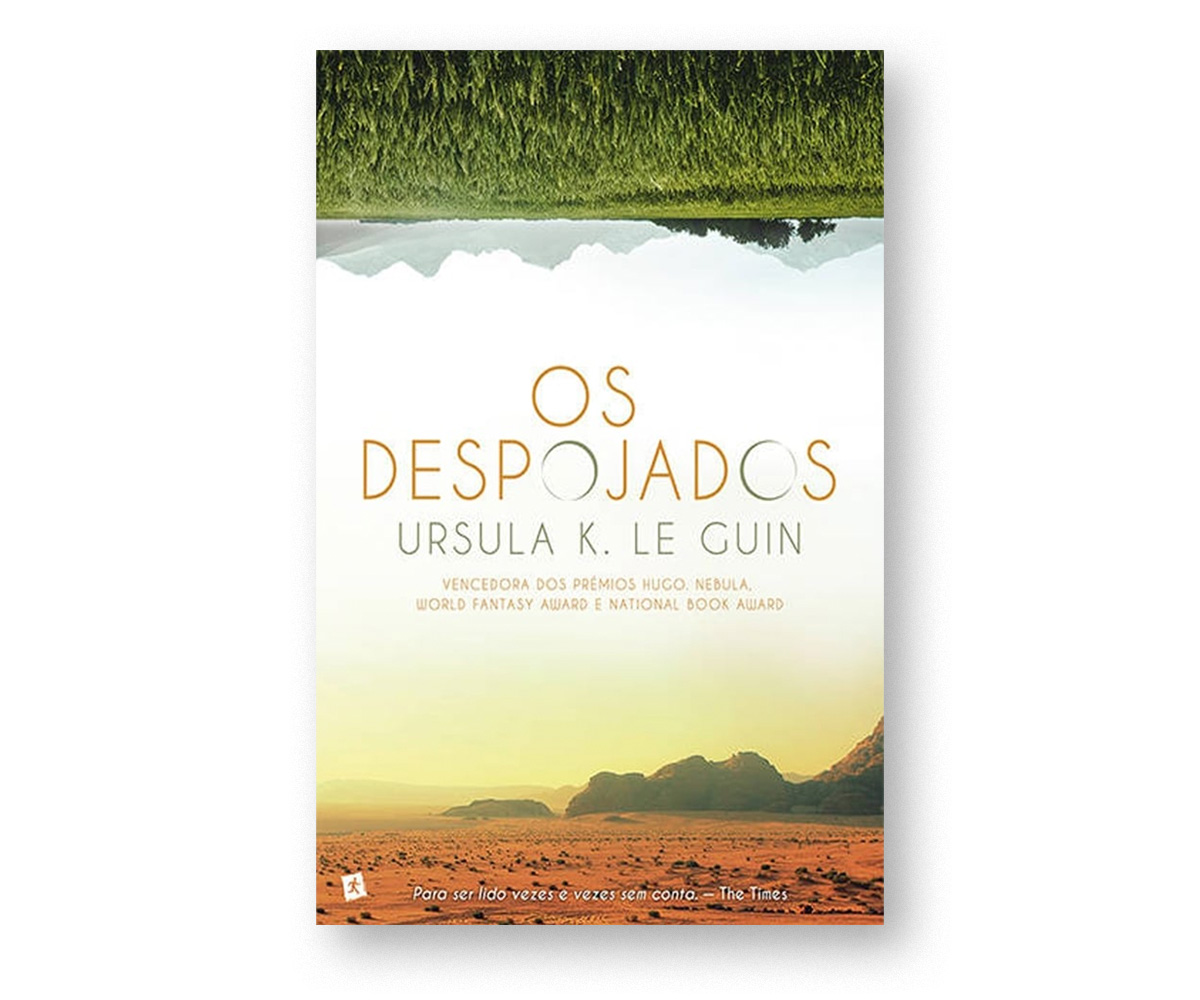
Os Despojados
Ursula K. Le Guin
Tradução de Fernanda Semedo
Saída de Emergência
Inserido no ciclo Hainish, uma das muitas séries narrativas em que Ursula K. Le Guin estruturou a sua vasta obra, Os Despojados cabem sem desconforto nesta lista de distopias, mesmo que o texto comece por descrever aquilo que parece ser uma utopia. Essa é, aliás, uma das marcas de água desta extraordinária escritora, a de procurar sempre o questionamento em vez da resolução, a dúvida em vez da afirmação peremptória. Nesse espírito, os dois modelos de organização social que se enfrentam neste livro, a libertária Anarres e a capitalista Urras, descrevem-se com detalhes de funcionamento que lhes asseguram uma existência própria, mais além da representação de possibilidades semelhantes, ou existentes, no mundo que conhecemos. E se a leitura começa com as maravilhas da ausência de Estado e de propriedade, não demorará muito até surgirem os incómodos, as falácias que a burocracia abafa e, mais importante, as perguntas sem resposta. Ursula K. Le Guin não oferece uma solução que defenda Anarres face a Urras, ou vice-versa, e ainda que seja notória a sua maior afeição pela hipótese libertária, o que realmente domina a narrativa é a dúvida permanente.
Os Despojados é uma afirmação de liberdade que não cede, nem sequer à ilusão. Na frágil negociação entre os desejos individuais e as aspirações colectivas, a coisa pública é sempre um equilíbrio instável e em permanente construção. Quando não é, quando as respostas parecem todas dadas e não aceitam variações, a utopia já resvalou para outra coisa.
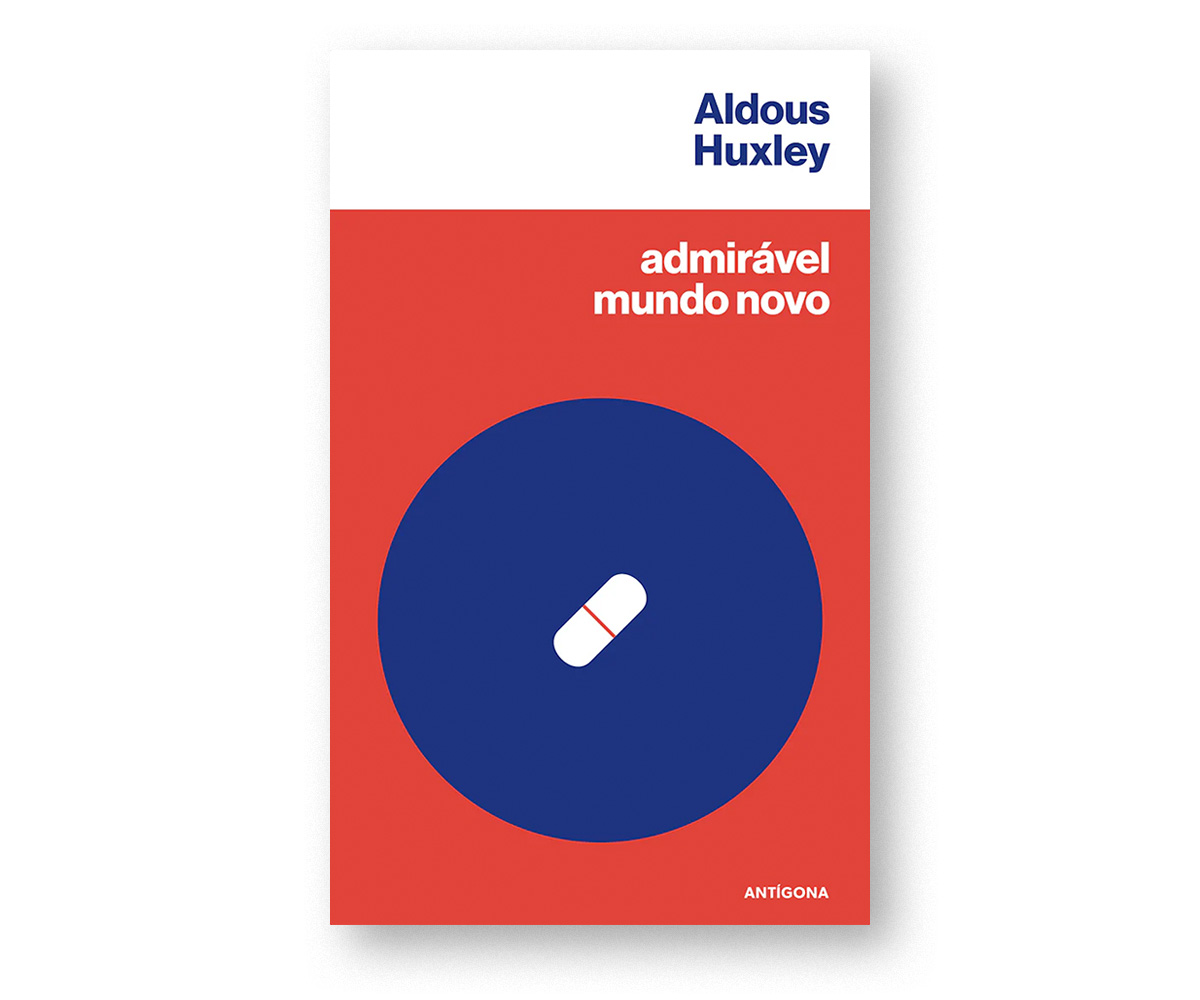
Admirável Mundo Novo
Aldous Huxley
Tradução de Mário Henrique-Leiria
Antígona
«Um estado totalitário verdadeiramente eficiente será aquele em que o todo-poderoso comité executivo dos chefes políticos e o seu exército de directores terá o controlo de uma população de escravos que será inútil constranger, porque todos terão amor à sua servidão.» A frase é de Aldous Huxley, mas não integra o corpo deste romance distópico. É na introdução à edição de 1946 que o autor escreve estas palavras, deixando claro que a questão que atravessa Admirável Mundo Novo não é tanto a da evolução científica e tecnológica em abstracto, mas a relação dessa evolução com os seres humanos e as suas formas de organização político-social. Já no corpo do texto, pela página 261, numa conversa em que se invoca Shakespeare e a beleza de certas tragédias do autor, lê-se: «Não se pode fazer calhambeques sem aço, e não se pode fazer tragédias sem instabilidade social. O mundo é estável, agora. As pessoas são felizes; conseguem o que querem, e nunca querem aquilo que não podem obter.» É essa a perversão, uma ilusão de felicidade tão plena que esmaga qualquer hipótese de revolta e à qual o autor dá corpo num texto que continua essencial para qualquer exercício de compreensão do mundo.
Esta submissão da espécie humana aos avanços tecnológicos e às invenções que ela própria criou encontram eco nos debates recentes em torno da Inteligência Artificial, ainda que Huxley tenha escrito este livro em 1932, muito antes de começarmos a conversar com máquinas às quais atribuímos a gestão e as decisões básicas do nosso dia a a dia. Admirável Mundo Novo é visionário em muitos aspectos, mas a sua excelência não reside numa qualquer capacidade divinatória e sim no facto de se constituir enquanto ensaio sobre a ilusão do progresso, uma ferramenta que talvez pudéssemos usar com mais frequência para reflectirmos sobre como queremos viver.