 por Leyla Perrone-Moisés
4 Outubro 2021
por Leyla Perrone-Moisés
4 Outubro 2021
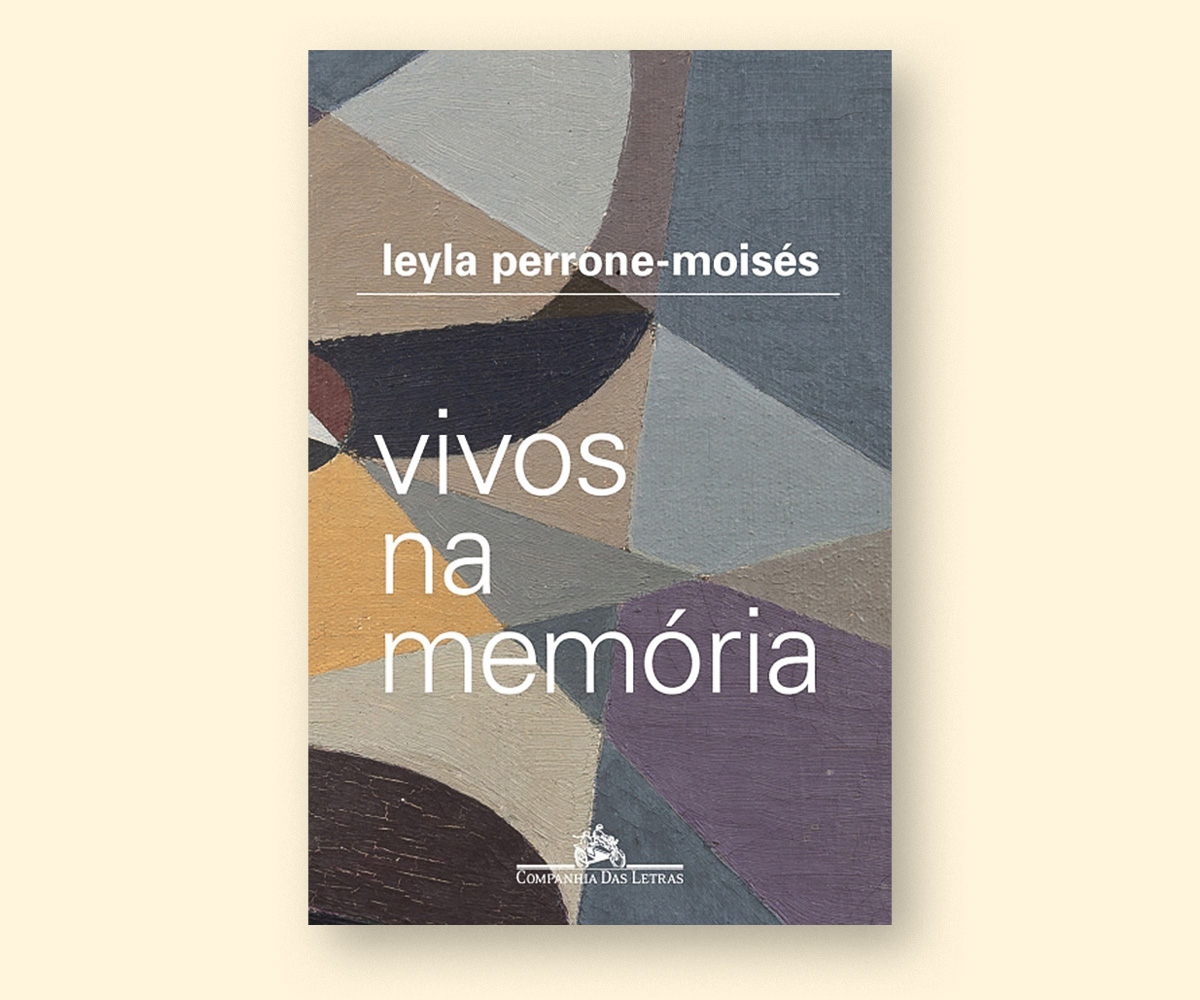
Os encontros e histórias que Leyla Perrone-Moisés colecionou durante décadas de trabalho como professora e crítica literária foram registados em formato de crónica e publicados em “Vivos na Memória”, livro editado recentemente no Brasil pela Companhia das Letras. Entre os intelectuais com quem Perrone-Moisés estabeleceu diálogos estão Roland Barthes, Haroldo de Campos, Julio Cortázar, Derrida, Lévi-Strauss e José Saramago. A Blimunda deste mês publica, com exclusividade, o capítulo de seu livro dedicado ao escritor português.
* A grafia usada pela professora foi preservada
José Saramago, o homem do “não”
A biografia de José Saramago (1922-2010) é tão rica de acontecimentos, intervenções políticas, obras, prêmios, homenagens e viagens que, se eu a resumisse, estaria repetindo o que é de conhecimento público, sobretudo através da internet, onde ele tem milhões de entradas.
Saramago conseguiu realizar uma proeza raríssima na literatura moderna: ser um escritor original e inovador, respeitado pela crítica especializada, objeto de pesquisa em universidades de vários países, e ter tido imediatamente um vasto público leitor, nos países de sua língua e em todos aqueles em que foi traduzido.
Como crítica literária, escrevi e publiquei muitos ensaios sobre seus romances. Mas o que desejo lembrar aqui é o homem José Saramago, de quem tive a honra e a alegria de ser amiga. Descobri a obra de Saramago em 1985. Naquela década, eu estava quase que exclusivamente dedicada à obra de Fernando Pessoa, e chamou-me a atenção uma notícia sobre o romance O ano da morte de Ricardo Reis. Adquiri o livro, que ainda não estava editado no Brasil, em novembro daquele ano publiquei um artigo no Jornal da Tarde: “Saramago e um sobrevivente: Ricardo Reis”.
Algum tempo depois, ainda na década de 1980, vi o escritor pela primeira vez. Eu estava no campus da Universidade de São Paulo, almoçando no clube dos professores com alguns colegas, quando um casal se aproximou de nossa mesa: um homem já maduro, alto, calvo, com grandes óculos e uma jovem mulher muito bonita. Eram José Saramago e Pilar del Río, ainda em clima de lua de mel. A felicidade de ambos era visível a olho nu. Trocamos algumas palavras com eles, e eu disse ao escritor que havia publicado um artigo sobre seu romance. Ele me deu seu endereço em Lisboa, enviei-lhe uma cópia do artigo e ele me respondeu.
Numa data de que já não me lembro, reencontrei-o em Paris, onde assisti a uma conferência na qual ele exprimia sua descon- fiança com respeito à União Europeia. Para ele, essa União era apenas uma grande empresa comercial que considerava os homens unicamente produtores e consumidores. Além disso, ele previa que essa União desrespeitaria a autonomia das nações, e que estas ficariam submetidas à Alemanha. A conferência causou espanto, pois a França era então uma das nações mais entusiasmadas com a União Europeia e o euro. O escritor, que se declarava “eurocéptico”, tinha publicado A Jangada de pedra, romance fantástico no qual a península ibérica se descola da Europa e desce Atlântico abaixo em direção à África e ao Brasil.
Em janeiro de 1992, publiquei outro artigo, agora sobre O evangelho segundo Jesus Cristo, na Folha de S.Paulo. O romance tinha causado polêmicas, fora condenado pela Igreja católica e impedido, pelo governo português, de concorrer a um prêmio europeu. Incomodava os censores o fato de um escritor declaradamente comunista transformar Jesus e o próprio Deus em personagens pouco canônicas. Em minha leitura, eu argumentava que “a ficção tem razões que a fé não conhece”, que o objetivo de Saramago não era rebaixar a fé, mas tratar de questões essenciais no “mundo dos homens”: o sentido do universo, sua transcendência ou imanência, o bem e o mal. E terminava dizendo: “Raramente Saramago esteve tão iluminado, com a mão tão certa e o ouvido mais afinado. Os advogados de Deus poderiam dizer que, apesar de advogado do Diabo, ele está, neste livro, em estado de graça”.
Enviei uma cópia do artigo ao escritor, acompanhado de uma cartinha em que eu dizia que o texto era “apenas uma gota d’água” no oceano de comentários que o romance vinha recebendo. Em fevereiro de 1992, quando eu estava dando aulas em Paris, recebi uma carta de Saramago, que dizia:
Caríssima Leyla:
Gota d’água será, mas é, até agora, a mais cristalina de quantas ressumbraram Brasil e Portugal sobre o Evangelho. O livro, no seu artigo, aparece colocado onde deve estar, que é onde eu o quis pôr e onde eu o reconheço: um intento de perceber o mundo em que vivo, pelas únicas vias por onde posso atrever-me, as da literatura e da ficção. A Igreja protesta e barafusta, sem sequer perceber que eu não estou lá onde ela teima em ver-me. Tudo isso seria divertido se não fosse triste: o ser humano é um animal sem remédio, doente e louco, incapaz de aguentar a contradição quando ela atinge em cheio as máscaras que inventou contra o medo.
Já conhecia o artigo, mas foi um prazer recebê-lo das suas mãos. Confesso que, depois do texto sobre o Ricardo Reis, esperava com certa ansiedade o que iria dizer sobre o Evangelho. Basta dizer que lhe estou grato, com um certo sentimento de humildade que não sei aprofundar.
Uma das maiores satisfações de um crítico literário é ouvir, do escritor analisado, que seu livro foi “colocado onde deve estar, onde [ele] o quis pôr” e onde ele o reconhece. Porque é esta a obrigação do crítico: reconhecer o projeto do autor e analisar em que medida esse projeto foi cumprido. E a humildade cabe à crítica, diante do grande escritor, não por acaso apelidado de “Imperador da língua portuguesa”.
Depois dos ataques sofridos pelo romance O Evangelho segundo Jesus Cristo, José e Pilar se mudaram para Lanzarote, uma ilha das Canárias. Enquanto isso, ele foi conquistando leitores em vários países, principalmente no Brasil, onde teve uma acolhida crescente, até se transformar, em seus últimos anos, numa verdadeira consagração. Multidões de jovens acorriam a cada apresentação de Saramago.
Em 1994, encontrei novamente o escritor e sua mulher num lugar imprevisto: a cidade de Edmonton, na província de Alberta, no centro do Canadá. Participávamos ali do xiv Congresso da Associação Internacional de Literatura Comparada (icla). A Associação era então presidida pela professora e ensaísta portuguesa Maria Alzira Seixo, e Saramago foi o escritor homenageado daquele congresso, não por iniciativa da conterrânea e amiga, mas por proposta de um professor de Alberta. Muitos brasileiros estavam ali presentes.
A intervenção do escritor, numa das sessões, foi tumultuosa. Um professor brasileiro do Rio Grande do Sul apresentou uma comunicação na qual repudiava a imagem negra e mestiça que o Brasil tinha no exterior e reivindicava o reconhecimento de muitas “obras-primas” escritas por escritores alemães do sul do país, como ele próprio. Acrescentou ainda que a literatura brasileira é pobre porque vem de uma literatura pobre, a portuguesa. Na plateia, Saramago levantou-se irado, “tremendo como poucas vezes na minha vida, com a boca resseca e amarga”, narrou ele depois em seus Cadernos de Lanzarote II (1995). A discussão esquentou, e só não terminou num enfrentamento porque o litigante gaúcho se retirou.
À noite, bem mais calmo, reencontrei Saramago num agradável jantar oferecido a ele. Durante o encontro, conversamos sobre um lugar de Edmonton que havíamos visitado e que nos tinha estarrecido: o West Edmonton Mall, um imenso shopping center que era então o maior do mundo, uma verdadeira cidade no interior da outra. Coberto por uma vasta cúpula transparente, o shopping era climatizado e continha, além das inúmeras lojas e restaurantes que só podiam ser alcançados por carrinhos elétricos, uma praia com areia e um “mar” de ondas artificiais, um lago profundo que se podia explorar num submarino, animais selvagens em jaulas, rinques de patinação e um parque de diversões com uma montanha-russa vertiginosa. Saramago ficou muito impressionado com aquele templo do comércio globalizado. Nos Cadernos de Lanzarote II, ele registrou: “[Milhares e milhares de pessoas, […] com o olhar vago subitamente excitado por um apetite de compras, caminham pelas intermináveis galerias como obedecendo a um irresistível tropismo. Só de vê-las, entra-me no corpo uma mortal tristeza”. Esse shopping inspirou-lhe, anos mais tarde, o romance A Caverna (2000).
No mesmo ano, ele veio a São Paulo para o lançamento do livro Terra, com fotos de Sebastião Salgado, para o qual ele escrevera uma introdução. Houve então um jantar festivo na casa de Luiz e Lilia Schwarcz, ao qual fui convidada. Além dos participantes do livro (Salgado, Saramago e Chico Buarque), havia numerosas personalidades artísticas e políticas nesse jantar. Sabendo disso de antemão, levei uma pequena máquina fotográfica em minha bolsa. Essa máquina me fez passar vergonha, mas no final fui recompensada por levá-la. Quando vi pessoas fotografando, achei que também podia fazê-lo. O problema é que aquelas pessoas eram fotógrafos renomados que eu não conhecia pessoalmente, como Maureen Bisilliat, e eu era uma simples amadora.
Em determinado momento, estando eu sentada num sofá ao lado de Raduan Nassar (numa de suas raríssimas aparições em público), Saramago veio juntar-se a nós. Pensei então que aquela era uma oportunidade única de ter uma foto na companhia daqueles dois escritores que eu tanto admirava e sobre os quais eu havia escrito. Passava então, perto de nós, um jovem senhor que me pareceu simpático. Levantei-me com minha máquina e pedi a ele que tirasse uma foto nossa. Muito gentilmente, ele nos fotografou. Tendo assistido à cena, a editora Maria Emilia Bender caiu na risada e me disse: “Você sabe a quem você pediu que tiras- se aquela foto? Era o Bob Wolfenson! E você ainda explicou a ele que era só apertar aquele botão!”. Depois desse fora, pedi desculpas ao famoso fotógrafo de celebridades. Resultado previsível: é a melhor fotografia da noite, a mais bem enquadrada. Saramago me abraçando e Raduan com cara de “o que estou fazendo aqui?”.
Em 1998, a maravilhosa surpresa: Saramago, prêmio Nobel de literatura. No dia em que o prêmio lhe foi concedido, eu estava em Lisboa. Sozinha, no quarto do hotel, eu vi na televisão as primeiras imagens do premiado, que se encontrava na feira literária de Frankfurt, e as primeiras reações, em Portugal e no mundo. Dei pulos de alegria. À noite, saí para festejar com amigos. Pelas ruas, já havia outdoors iluminados com a notícia. Lisboa toda estava em festa, uma festa que se estenderia por meses, com a volta triunfante do escritor a Portugal. Depois da cerimônia em Estocolmo, Maria Alzira Seixo, que esteve presente, me enviou uma linda foto com o escritor. E, quando vi a filmagem da cerimônia, pensei: nenhum escritor nobelizado esteve mais elegante de casaca do que aquele camponês do Ribatejo que, até os nove anos, andava descalço cuidando dos porcos. Saramago recebeu o prêmio “pela sua capacidade de tornar compreensível uma realidade fugidia, com parábolas sustentadas pela imaginação, pela compaixão e pela ironia” (Academia Sueca).
A palavra “compaixão” é, aí, muito importante. Odiado por muitos por ser comunista, na verdade ele era antes de tudo um humanista generoso, defensor dos miseráveis e dos injustiçados. E eu o admirava não só como escritor, mas também pela firmeza e a coragem de suas convicções. Certa vez ele declarou que sua palavra preferida era “não”. E justificava sua preferência em entrevista à Folha de S.Paulo, em 1991: “O não é a única coisa efetivamente transformadora, que nega o status quo. Aquilo que é tende sempre a instalar-se, a beneficiar injustamente de um estatuto de autoridade”. Diante das injustiças, ele era o homem do “não”.
Em seu romance História do cerco de Lisboa (1989), ele imagina um revisor que, pela simples inclusão da palavra “não”, muda os acontecimentos históricos. Na verdade, toda a obra de Saramago é regida pela negação. Em O Memorial do Convento (1982), a rebeldia das personagens é um “não” oposto à opressão monárquica e religiosa. A Jangada de Pedra (1986) pode ser lido como um “não” à União Europeia. O Evangelho segundo Jesus Cristo (1991), um “não” às religiões que culpabilizam e sacrificam os homens. E assim por diante. Há, em Saramago, um permanente desejo de que a fatalidade brutal da história se detenha. É pelo “não” contraposto aos fatos históricos que o romancista opõe a liberdade da fabulação à fatalidade da história, escapando da lógica exclusiva do “sim” ou “não” que preside aos fatos passados e documentados. O escritor tem a permissão de alterar o passado e, com isso, sugerir que o futuro pode ser outro, menos cruel e menos injusto.
Nas conferências que dava, Saramago defendia suas ideias como o comunista que ele era em sua pessoa civil, sisuda e solene. Fechava a cara, seus olhos se apagavam e sua boca ficava “resseca e amarga”. Não era esse o Saramago que eu preferia. Aquele de quem fui leitora e amiga era afetuoso e divertido. Quando ele estava descontraído, seu sorriso era largo e, por detrás dos óculos, seus olhos brilhavam maliciosamente. Lembro-me dele numa sessão acadêmica em Porto Alegre, em 1999. Sentado na primeira fileira, inclinado para trás, com as longas pernas cruzadas, ele ou- via o que eu e outros colegas dizíamos no palco sobre sua obra. Quando terminamos e o público acabou de bater palmas, fez-se um silêncio. Foi então que Saramago se dirigiu a nós: “Acabaram? É só isso? Continuem falando bem de mim, ora”. Foi uma risada geral. Esse Saramago entre amigos era o homem do “sim”, sempre pronto para os abraços dos homens e os beijinhos das mulheres.
Em 2003, participei do programa Roda Viva, da tv Cultura, protagonizado por Saramago. Quando ele chegou, viu-me sentada com os outros entrevistadores, veio até mim e perguntou com um ar falsamente repreensivo: “O que estás a fazer aqui?”. Eu respondi: “Vim fazer-lhe perguntas”. Ao que ele retrucou: “E precisas vir a público para me fazer perguntas?”.
As viagens de Saramago eram muitas, as minhas eram algumas, e em virtude delas não nos reencontramos nos anos seguintes. Fui tendo notícias dele por amigos, soube de sua doença e preocupei-me com ela. Até que, em junho de 2010, tive a notícia de seu falecimento em Lanzarote. A Folha de S.Paulo me pediu um artigo, que escrevi imediatamente. Nele, eu dizia: “Qualquer que seja a posição dos leitores com relação às opiniões políticas do homem Saramago, ninguém pode acusá-lo de ter feito literatura partidária ou militante”. A obra de Saramago, como toda grande literatura, não prega nem tem qualquer mensagem explícita; ela consiste em parábolas críticas que nos fazem desejar um mundo mais justo.
Possuo vários livros de Saramago com belas dedicatórias. A que mais me toca está no Evangelho segundo Jesus Cristo: “Para a Leyla, com amizade, com admiração, com gratidão — com tudo quanto pode fazer de duas pessoas uma corrente contínua de afeição”. Nessa dedicatória está o “homem do sim” que ele era pessoalmente.
Hoje, o “não” de Saramago oposto às injustiças e aos erros históricos faz muita falta. Felizmente, existe a Fundação José Saramago, que não tem por missão “contemplar o umbigo do autor”. Tem, como norma de conduta, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e, entre suas funções, tratar dos problemas do meio ambiente e do aquecimento global. O fim do texto da declaração de princípios da instituição é o seguinte:
Bem sei que por si só a Fundação José Saramago não poderá resolver nenhum desses problemas, mas deverá trabalhar como se para isso tivesse nascido.
Como se vê, não vos peço muito, peço-vos tudo.
Lisboa, 27 de junho de 2007 José Saramago
