
Eduardo Halfon: o universo em contínua construção
Já vários jornais e revistas escreveram que Eduardo Halfon é uma das vozes mais originais da actual literatura latino-americana, mas o autor nascido na Guatemala e a sua já longa obra não se arrumam sem discussão em gavetas geográficas. Nem de outra ordem, acrescente-se. O Anjo Literário (Cavalo de Ferro), Canción e Luto (ambos da Dom Quixote) são os únicos livros seus publicados em Portugal, mas fazem parte de uma longa lista de títulos que inclui El Boxeador polaco, Monasterio, La Pirueta e, o mais recente, acabado de publicar em Espanha, Un Hijo Cualquiera. São livros que se lêem individualmente de modo completo, e qualquer um deles é uma porta de entrada possível para a escrita de Eduardo Halfon, mas todos eles se encaixam como peças numa construção maior, sem ordem definida, que compõe um projecto literário ainda em processo.
Na Livraria Buchholz, em Lisboa, o autor conversou com a Blimunda sobre os seus livros, os que já se publicaram em Portugal e alguns dos que ainda esperamos ver traduzidos por cá.
Muitas das histórias que integram os seus livros vão reaparecendo, por vezes alteradas, noutros livros.
Sim, é como um eco. São histórias que crescem, ou que se contradizem, ou que vemos de outro ponto de vista, mas é verdade que vou arrastando alguns personagens, histórias e temas desde que comecei este projecto.
Um exemplo dessa recorrência de episódios acontece no seu último livro, Un Hijo Cualquiera, em que volta a contar a história de como se transformou num leitor, algo que já conhecíamos de O Anjo Literário. É nesse momento que se transforma também em escritor ou isso é posterior?
É posterior. Quando me transformei em leitor, não sabia que podia ser escritor, não me interessava escrever, simplesmente descobri a leitura e, de certo modo, enlouqueci, só queria ler. E demorou alguns anos a chegar o desejo de escrever, não foi ao mesmo tempo. Para mim, escrever foi uma reacção a ler demasiado. Preenchi-me com tantos livros que a consequência foi querer começar a escrever, ainda por cima num idioma que não dominava.

E o momento em que essa consequência se impôs, consegue identificar?
Já não penso nisso. Houve um momento em que pensava no motivo para começar a escrever, mas creio que isso vai perdendo importância conforme vamos escrevendo. Lembro-me de estar a escrever O Anjo Literário e de me colocar essa pergunta a mim mesmo, mas quando a colocava a um escritor que já escrevia há algum tempo, olhavam sempre para mim com cara de “para que queres saber isso?”. Se perguntava isso a um escritor mais recente, aí, sim, podíamos passar horas a falar do tema, porque era como se fôssemos recém-chegados a uma festa e quiséssemos saber porque estamos ali, como chegámos ali. Na verdade, é uma pergunta sem resposta, ou com muitas respostas possíveis.
Neste último livro surge um tema que também já aparecia em alguns livros seus, mas que agora é abordado de um modo totalmente novo, o tema da paternidade.
Sim. Até ao momento de ser pai, eu era só um filho, era um escritor que escrevia como filho. De há seis anos para cá, sou um filho que também é pai, então já não vejo o meu pai da mesma maneira, nem a escrita, nem o tempo. O tempo que tenho para escrever já não é ilimitado, agora há horários e há uma criança que precisa de tempo. O ofício mudou. Se trabalhas em casa e se agora há um “intruso” nesse espaço da escrita, o modo como escreves também muda.
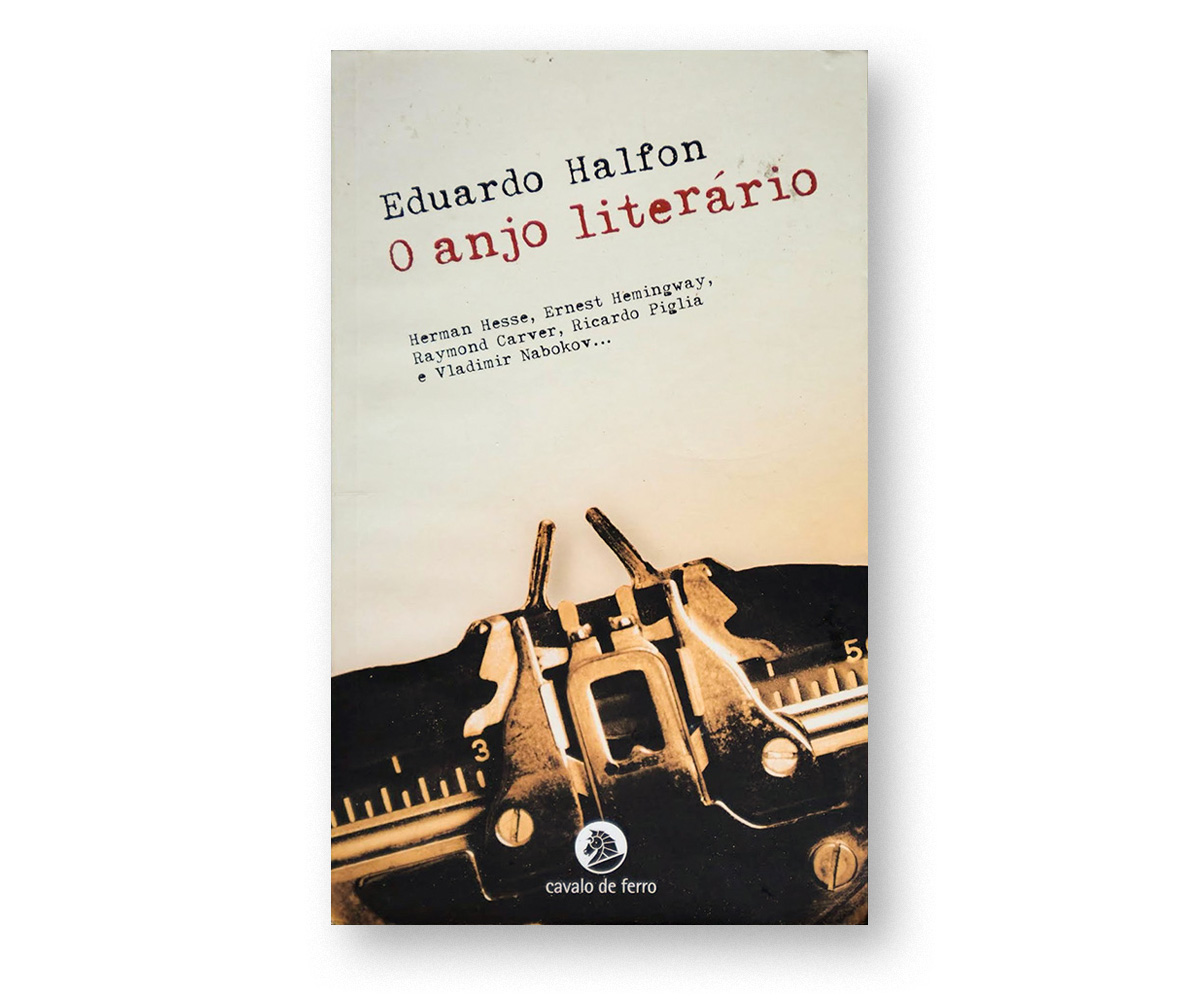
Foi difícil essa adaptação?
Sim, demorei algum tempo a adaptar-me. Talvez porque demoro sempre algum tempo a adaptar-me a realidades novas, mas também porque já tinha 45 anos quando fui pai e tinha uma rotina muito estabelecida. Mas adaptei-me, claro. E comecei a trabalhar de outro modo, com mais empatia relativamente à figura do meu pai, talvez, com mais paciência.
E isso reflectiu-se nos livros?
Sim. Leu Saturno, o meu primeiro livro?
Esse não, infelizmente.
É difícil de encontrar, mas é uma carta ao pai, mas escrita por um filho rancoroso. É um grito ao pai, na verdade. Curiosamente, na Argentina reeditou-se esta semana Saturno e Un Hijo Cualquiera, o que acompanha o ciclo completo e mostra o que gerou em mim a paternidade, a mudança de perspectiva, de voz.
Para além da rotina da escrita, também mudou o que escreve, é isso?
Sim, já não voltará a ser igual. E por mais que resista, é parte de ser escritor, é um tema enorme e não posso evitá-lo. Mas Un Hijo Cualquiera também não é bem um livro sobre a paternidade, na verdade, usa o filho como pretexto para falar de outros temas, sobre como começamos a ler em silêncio, por exemplo, sobre a música. O filho é um ponto de partida, uma espécie de pano de fundo, porque na verdade, continuo a arrastar os meus temas de sempre, as mesmas histórias, as mesmas inseguranças, mas agora, com o peso dos anos e da paternidade.
Em muitos dos seus livros há uma busca por uma história, uma narrativa que se procura estruturar. Conhecer a nossa própria história arrumada de modo cronológico e com todos os detalhes é algo impossível, já o sabemos, mas essa ilusão é necessária para continuar à procura de respostas?
Sim, e creio que o que realmente me motiva é que essa história esteja sempre desordenada e incompleta. Porque isso significa que posso continuar à procura dela. Por exemplo, quando publiquei El Boxeador Polaco, pensei que essa história a partir do meu avô estava encerrada, que já não tinha mais nada para contar. Mas depois descobri que havia outras histórias dentro dessa, e faço uma viagem à Polónia, encontro a casa onde o meu avô viveu… ou seja, descubro que há outros vazios por preencher nessa história, que estará sempre incompleta. Posso continuar a escrevê-la, claro.
E é isso que faz?
Sim, claro. Por exemplo, há uma história em Un Hijo Cualquiera que se chama «Beni», Essa história acabou de sair no mês passado incluída na edição norte-americana de Canção. Portanto, essa edição é a única que inclui mais um capítulo, porque o escrevi depois das edições em espanhol, italiano ou português.
E porquê colocar essa história, que é do último livro, num livro já publicado?
Porque se quando escrevi Canção ainda não tinha escrito essa história, agora percebi que ela pertencia a esse livro, que tinha que ver com o tema da guerra, da guerrilha na Guatemala. Então, há este processo de os meus livros irem ampliando uma história, ou várias. Portanto, «Beni» é a continuação de Canção, não a continuação cronológica, mas uma continuação em profundidade, uma outra cena que pertence ali, mesmo que esteja noutro livro.
Podemos, então, falar da sua obra como algo em permanente construção, uma espécie de palimpsesto em que o que já está escrito não está necessariamente acabado e pode alterar-se com novas escritas?
Sim, claro. Um palimpsesto, um jogo da macaca [rayuela], uma espécie de andaime, um sistema solar… o que é certo é que se trata de um mesmo, de um só projecto. Leiam-se de que modo for, estes livros formam algo que existe no seu conjunto.
Mas que não se sabe como acabará.
Não, isso não. É um processo, suponho que em algum momento acabará por parar, mas não sei quando. E é um projecto que não foi planeado, ou seja, não sei que personagens se vão repetir, que histórias vão continuar. É algo que vai acontecendo. Mas este projecto causa-me alguns problemas. Por ser algo que está em marcha, não sei como dar-lhe uma ordem. Se é um só livro, que ordem lhe dou? E, mais ainda: que título lhe dou?
E é importante arrumar esta obra num título e numa ordem fixa?
Pode ser. Por exemplo, o meu editor norueguês tem vindo a publicar os meus livros individualmente, mas para o ano quer fazer uma edição de bolso juntando todos os títulos. E fez-me essas duas perguntas: como os ordeno e que título lhes dou? E eu tive de dizer que não faço ideia, porque o título, principalmente, é algo muito difícil de definir até que tudo esteja terminado. E não faço ideia quando nem como isto vai terminar! Até há algum tempo, achei que o título podia ser El Boxeador Polaco, mas já é um título insuficiente, porque há muito que isto não é apenas a história do meu avô polaco há outros avós, outros personagens… Na verdade, a edição de El Boxeador Polaco em inglês inclui La Pirueta. E a edição japonesa inclui La Pirueta e Monasterio.
Então já há um historial de misturar livros que, tendo o mesmo título, na verdade incluem livros diferentes.
Sim, todas as edições são um pouco diferentes umas das outras. Agora, na Polónia, vai sair Monasterio e Luto juntos na mesma edição.
Com que título?
Mantêm-se os dois títulos, separados por um ponto.
Ou seja, cada editora faz a sua própria construção.
Sim, como uma rayuela. E daria a este projecto o título de Rayuela…
Não fosse Cortázar já o ter feito?
Sim [risos]. Estragou-me a hipótese…
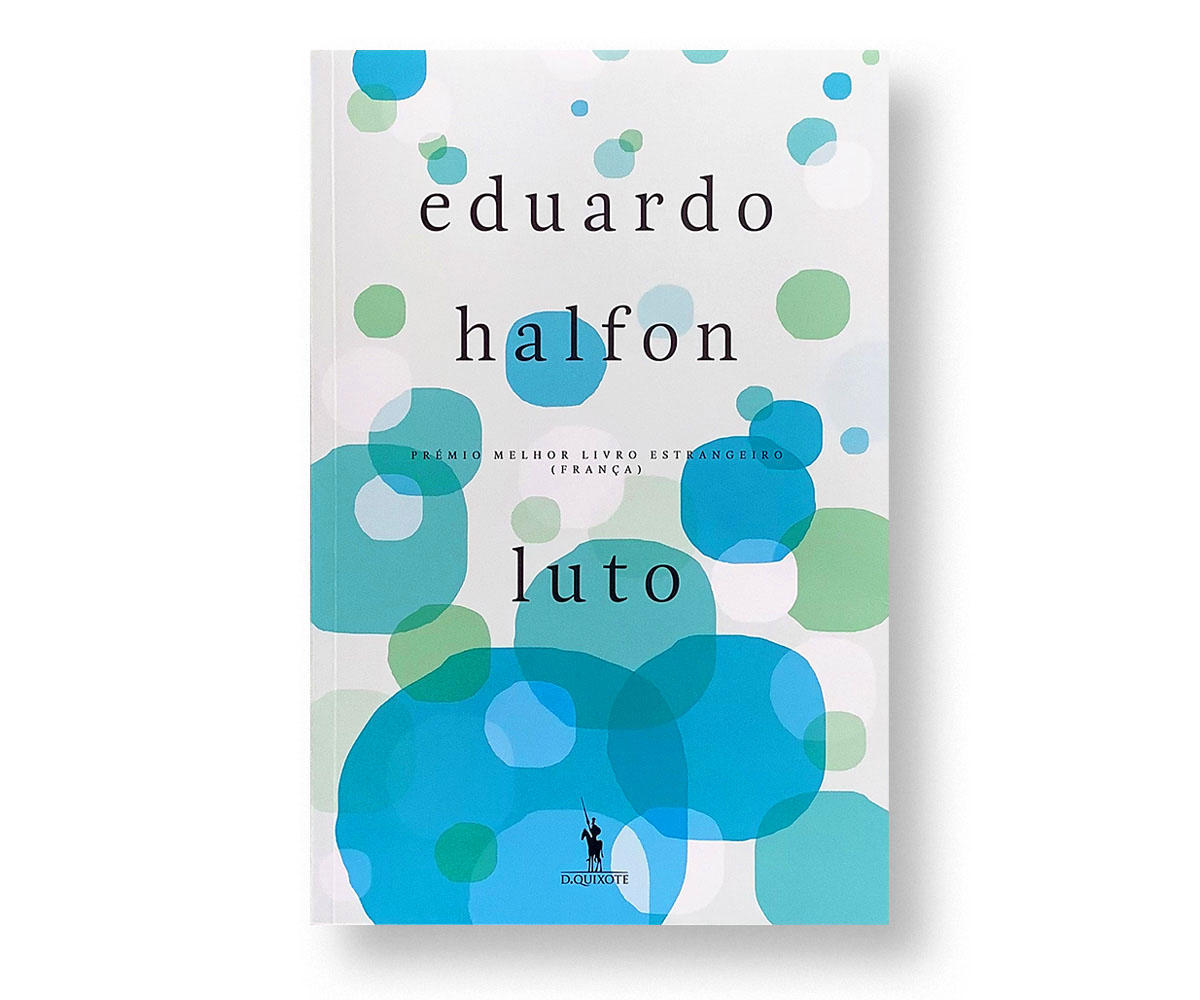
Em Luto há uma imagem do tempo muito inquietante, quando o narrador chega à antiga casa do seu avô e é como se o tempo organizado, cronológico, que gostamos de acreditar que existe fosse apenas uma miragem e como se vivêssemos sempre num cruzamento entre passado e presente, talvez também futuro.
Sim, isso acontece quando escrevo. Mas já não acontece noutro plano, quando sou pai.
Porquê?
Porque agora há uma ampulheta, que te permite ver o tempo fisicamente. A primeira vez que senti isso, senti realmente a mortalidade, porque vejo a cada dia como o tempo se esgota, como passam os grãos de areia na ampulheta.
E quando escreve, essa sensação não existe?
Não, porque o tempo da escrita é outro. Quando escrevo, solto-me cada vez mais no registo da elipse, porque o tempo literário não é o tempo cronológico, a narrativa pode levar-nos atrás e à frente no tempo, e até no espaço geográfico, se pensarmos que um livro sobre a guerra civil na Guatemala [Luto] começa no Japão. Porque o espaço não é o espaço geográfico, é o espaço que precisa de existir nesse livro. Com o tempo acontece o mesmo e para mim foi duro.
Constatar esse contraste entre tempo real e tempo literário?
Sim, e ganhar esta consciência do tempo, esta possibilidade de ver o tempo a passar à minha frente. É duro e é muito interessante, ao mesmo tempo.
Mas na sua cabeça, como na literatura, o tempo continua desorganizado, misturado, ou não?
Claro. Porque aí está a infância, a família, e até o futuro. Tudo isso está metido na nossa cabeça, mesmo que de um modo imaginário.
Será mais ou menos neste ponto que a literatura se encontra com a Física Quântica e a sua proposta da não existência do tempo?
Sim, por isso a Física Quântica é tão interessante.
E complexa.
Muito complexa. E é por isso que em Un Hijo Cualquiera a morte estão tão presente. Há como que fantasmas que vão pairando. E creio que é por isso, porque desde o nascimento do meu filho, passei a sentir o tema da mortalidade de outro modo. E às vezes não sei se é só porque nasceu o meu filho ou se é porque já tenho 50 anos e a mortalidade se tornou mais presente. E depois veio o Covid e passámos a ter a mortalidade a rondar-nos a porta. Portanto, creio que não é casual esta presença tão forte da morte no meu último livro.
Um dos elementos que se incorpora nas narrativas de muitos dos seus livros é a referência ao facto biográfico da sua mudança da Guatemala para os Estados Unidos, quando tinha 10 anos. Essa mudança foi fundamental na sua vida?
Sim, ainda que não o soubesse na altura, porque era uma criança, porque a mudança não era para ser tão estendida no tempo, era para ser apenas durante algum tempo, e os Estados Unidos já eram um lugar que eu conhecia, porque íamos lá de férias. Não foi dramático, na altura, mas foi uma mudança fundamental, porque foi uma mudança de língua.
E isso muda tudo.
Sim, claro. Na verdade, a minha língua predominante é o inglês, ainda que escreva em espanhol.
E porque escreve em espanhol?
Nem sei explicar. É uma razão misteriosa, ainda não a compreendi…
Nunca escreve em inglês?
Às vezes, quando me pedem. E gosto muito, sendo que é muito mais fácil. Custa-me muito mais escrever em espanhol. Para Un Hijo Cualquiera, vários textos foram escritos em inglês e tive de traduzi-los para espanhol, e custou-me muito. Mas quando tenho de traduzir algum dos meus contos em espanhol para inglês, é um prazer.
Essa mudança de lugar, da Guatemala para os Estados Unidos, foi o início dessa sensação de desenraizamento, de não ter um lugar fixo, que atravessa os seus livros?
Não, isso começou muito antes, desde que nasci. Ou ainda antes, porque tenho quatro avós que itineraram toda a sua vida, acabando na Guatemala. Uma infância judaica num país absolutamente católico como a Guatemala foi muito estranha, porque todos os meus amigos faziam outra vida: todos faziam a primeira comunhão, celebravam o Natal, comiam fiambre no Dia dos Mortos, e eu não. E na mente de uma criança, é difícil aceitar essa diferença constante, é como dizer à criança que pode assistir ao jogo, mas não pode jogar. Portanto, desde criança que sinto que não pertenço a lugar nenhum, que sou sempre estrangeiro. Isso é algo muito judeu, claro, não há como fugir.
É o que acontece em O Anjo Literário, quando o escritor Andrés Trapiello diz ao narrador que «vocês, judeus, nascem com um romance já escrito debaixo do braço».
Sim. Quando conto a Andrés Trapiello a história do meu avô, que depois viria a ser a história de El Boxeador Polaco, e ele diz-me para escrever essa história, ou então escreve-a ele.
Isso.
Já nem me lembrava… Tenho pouca memória desse livro, há muito que não volto a ele, mas é isso, sim. E nesse livro já estava a história das agulhas [que surge em Un Hijo Cualquiera]. Creio que o que faço é ir agarrando em coisas dos meus livros anteriores e descobrindo outros sítios onde elas pertencem, ou seja, estou sempre a auto-plagiar-me. E creio que é perfeitamente válido, ainda que tenha colegas de profissão que não concordam.
Porquê?
Porque dizem que o que já escrevi, tenho de o deixar para trás tal como está. Mas não posso fazer isso, porque isto é o meu projecto e vejo os meus livros não como livros, mas como capítulos, que posso trabalhar até ao livro final.
Que não se sabe quando estará pronto.
Não. E já mo perguntaram muitas vezes.
E o que respondeu?
Que terminará quando eu o matar ou quando ele me matar a mim. É uma resposta meio humorística, meio séria, mas é a que faz sentido.
Essa ideia do judaísmo ter um imenso potencial literário não é um lugar-comum?
Não, na verdade, o único judaísmo que me interessa é esse, o judaísmo como literatura. Há uns 30 anos que não ponho os pés numa sinagoga e não me interessa nada o judaísmo como forma de vida ou de prática, mas sim como história. Mas o mesmo poderia dizer da Guatemala.
Como assim?
A Guatemala é um país com que me zanguei, de que me sinto afastado, mas que me interessa como literatura. E o mesmo acontece com a minha família, que vive na Guatemala e de quem vivo afastado há vários anos, com pouco contacto, mas no entanto interessa-me a família como literatura, como histórias, nada mais do que isso.
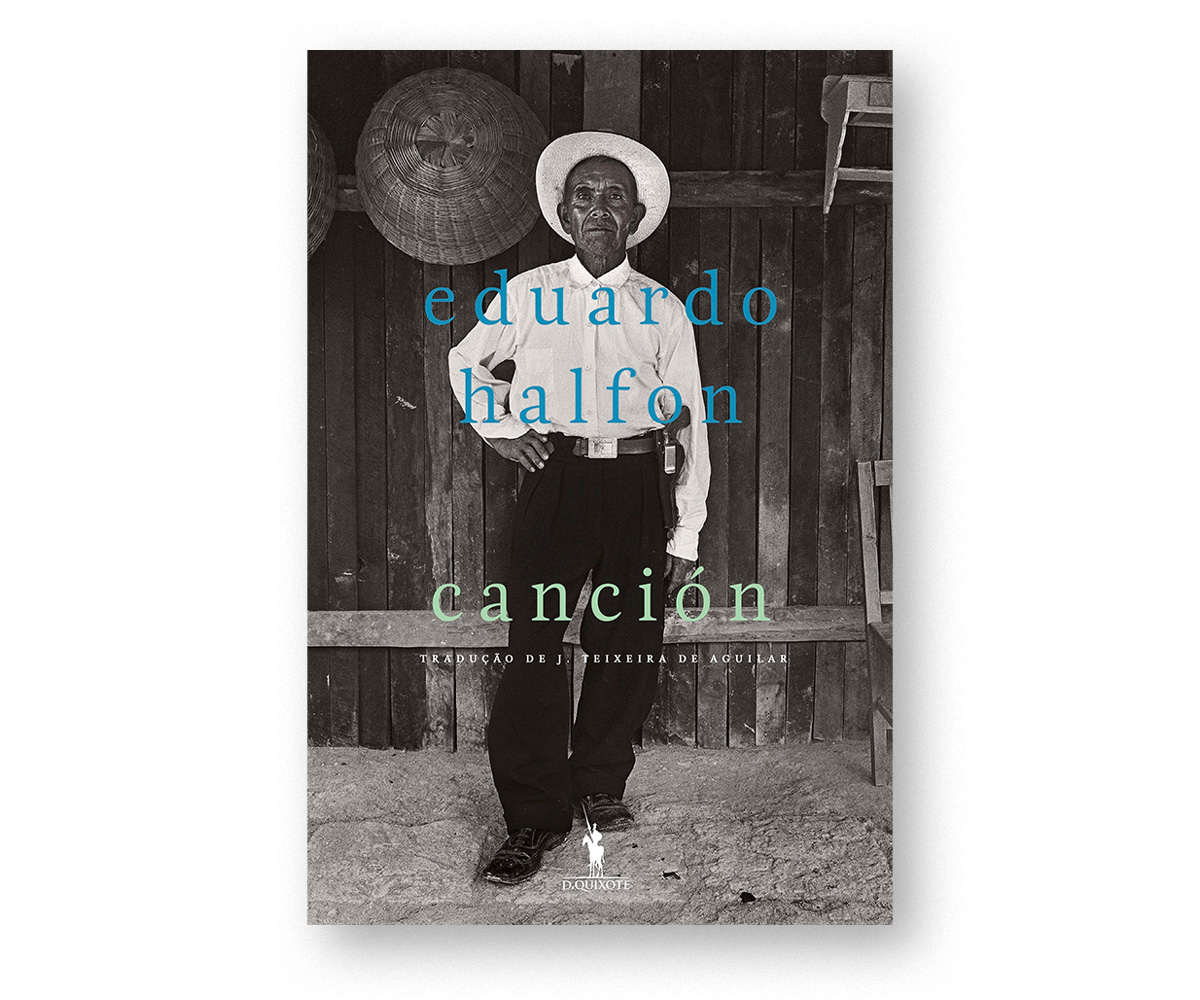
Em Canción escreve a partir do sequestro do seu avó pela guerrilha, na Guatemala, um facto que acontece alguns anos antes do seu nascimento. Apesar disso, é algo que faz parte das suas recordações, da sua memória, de forma intrínseca.
Sim, completamente. Estes pormenores da minha infância, quando se falava – pouco – do sequestro desse avó, isso faz parte da história da minha família, da minha história. E não é apenas esse sequestro, é a chegada à Guatemala, a passagem do meu outro avô por Auschwitz; de certo modo, é a literatura que tenho na cabeça desde que me lembro, desde a infância. E a infância é o lugar aonde volto à procura de imagens, de respostas, de perguntas.
Que continuam por responder?
Claro. Se conseguisse dar resposta a tudo, não haveria mais nada para escrever e seria melhor mudar de profissão. São coisas que não têm resolução, porque isto não é terapia. Não sei o que é, mas é outra coisa.
Em Canción há um disfarce que o narrador utiliza, o de “escritor árabe”, para responder à solicitação de participar num congresso no Japão, e há a referência a um armário de disfarces, sempre disponíveis. São esses disfarces a que recorre quando dá vida a um narrador que também se chama Eduardo Halfon e que partilha consigo uma série de dados biográficos?
Sim, e tenho muitos disfarces: o de escritor guatemalteco, o de escritor latino-americano, o de escritor americano, às vezes o de escritor francês… E também tenho o disfarce geral de escritor, que me faz saber o que dizer em público, quando participo num festival, por exemplo, ou como responder a jornalistas, mas é sempre uma pose. Creio que me interessa o disfarce como ferramenta de sobrevivência, que era o que dizia Wittgenstein quando falava do efeito camaleónico do judeu, que tem de poder adaptar-se às circunstâncias para passar despercebido. Mas há outro elemento que me interessa, o de perceber como, pouco a pouco, o disfarce se vai tornando parte da nossa identidade. Começa como disfarce, mas com o tempo torna-se parte de nós. Como Charlie Chaplin, que dizia que se convertia em Charlot quando se vestia de Charlot. Algo semelhante acontece comigo.