 por Nuno Júdice
12 Fevereiro 2025
por Nuno Júdice
12 Fevereiro 2025
Em 2005, o poeta e ensaísta Nuno Júdice publicou o livro O Fenómeno Narrativo – do conto popular à ficção contemporânea (Ed. Colibri), no qual dedica várias páginas a analisar a obra e o estilo de José Saramago. Por tratar-se de uma leitura tão completa do universo saramaguiano, e em jeito de homenagem a dois grandes nomes da literatura portuguesa contemporânea, a Blimunda recupera o capítulo do livro de Júdice dedicado a Saramago. Por ser um texto longo, publicá-lo-emos em duas parte, sendo a segunda na próxima edição da revista.
O romance no lugar de toda as rupturas
Em 1982, José Saramago publica Memorial do Convento. Desde esse livro, a sua escrita afirmou-se como um dos objectos mais inquietantes do romance português contemporâneo e, de certo modo, como uma fronteira entre o que se pode chamar um antes e um depois de Saramago.
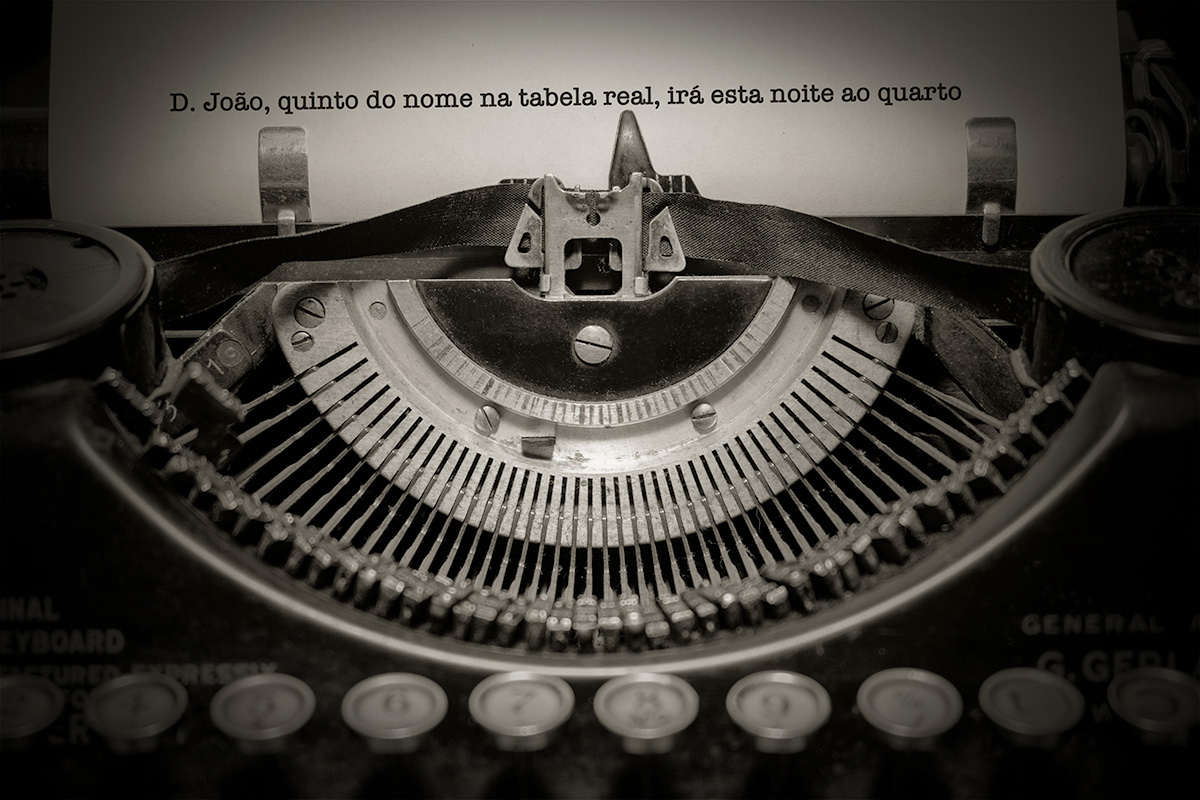
Antes: um interregno entre o fim do grande romance que vinha do realismo-naturalismo do século XIX, e que tivera os seus momentos altos em autores ligados ao neo-realismo (Alves Redol, Fernando Namora, Carlos de Oliveira, José Cardoso Pires) ou outros como Aquilino Ribeiro, José Rodrigues Miguéis, Vitorino Nemésio e a crise que surge nos anos 60 e que o período pós revolução de Abril de 1974 acentua – um período marcado por experiências várias de escrita, nenhuma das quais se conseguirá afirmar com o peso de uma corrente alternativa a essas tendências, a que apenas escapam projectos como os do romance existencial de Vergílio Ferreira ou a «comédia humana» da sociedade portuguesa de Agustina Bessa Luís, entre outros.
O que trazia de novo José Saramago dentro desse panorama pouco animador, sobretudo porque a expectativa de que, com a revolução democrática, viessem a surgir os grandes livros que a Censura tinha impedido de saírem à luz do dia, fora cruelmente gorada? O seu génio foi, de facto, o de partir do zero: e esse zero é a constatação de que a linguagem romanesca se tinha de reinventar, sendo que essa reinvenção não pode ir buscar ao presente nem à tradição literária qualquer recurso. Pode dizer-se que os personagens de Memorial do Convento agem como os personagens de Pirandello – não em busca de um autor mas em busca de um romance, numa deambulação pelo espaço e pelo tempo de uma História perdida. Nessa ficção, a construção do Convento é uma alegoria da própria construção do romance: o grande edifício que dá a sua razão de ser aos construtores – tanto o Autor como os seus personagens – que, uma vez terminada a Obra, encontram a sua justificação num duplo fim: o fim da História e o fim da estória.
Curiosamente, a ideia de morte do romance sobrepõe-se à da morte do Autor para darem origem ao que se pode considerar o nascimento de um romance novo em Portugal. Esse renascimento surge a partir da afirmação plena de uma realidade que se apagara na escrita da ficção: o sujeito; mas um sujeito que surge não enquanto afirmação lírica, na linha de uma subjetividade que teve em Raul Brandão, neste século, um expoente, mas enquanto construtor e detentor dos processos e dos caminhos narrativos.
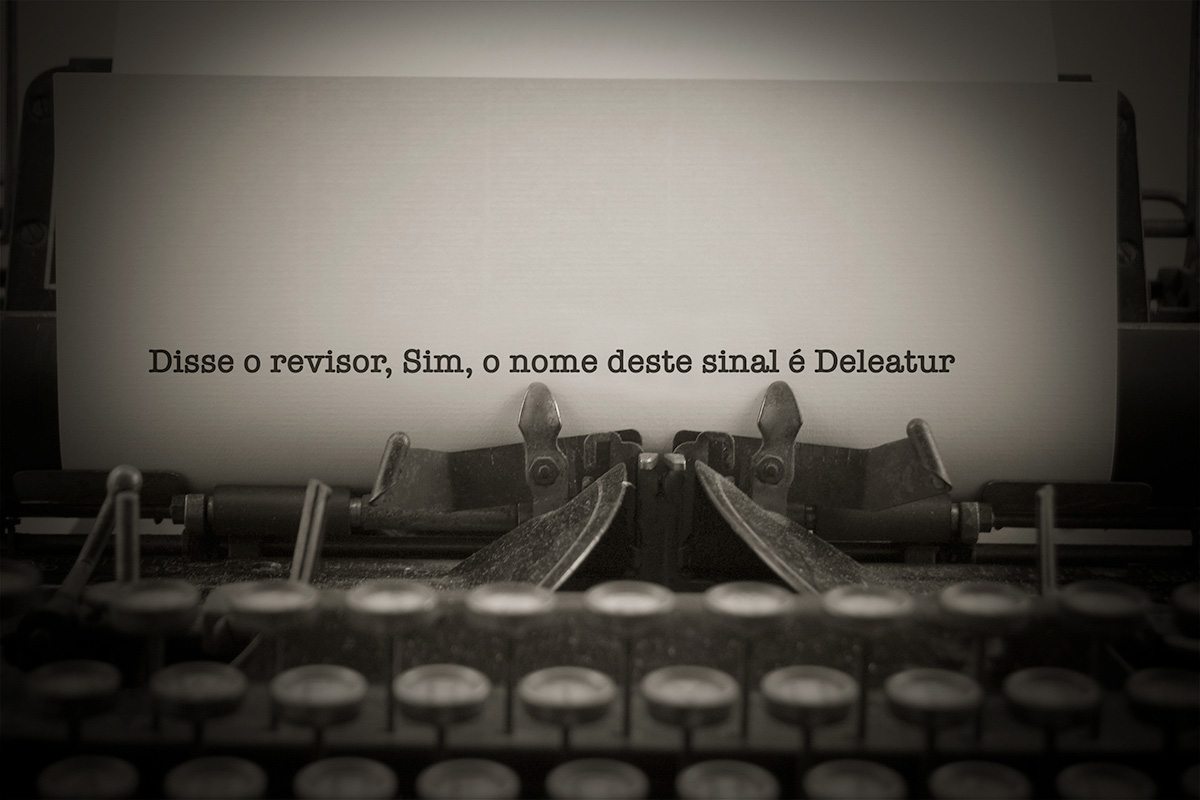
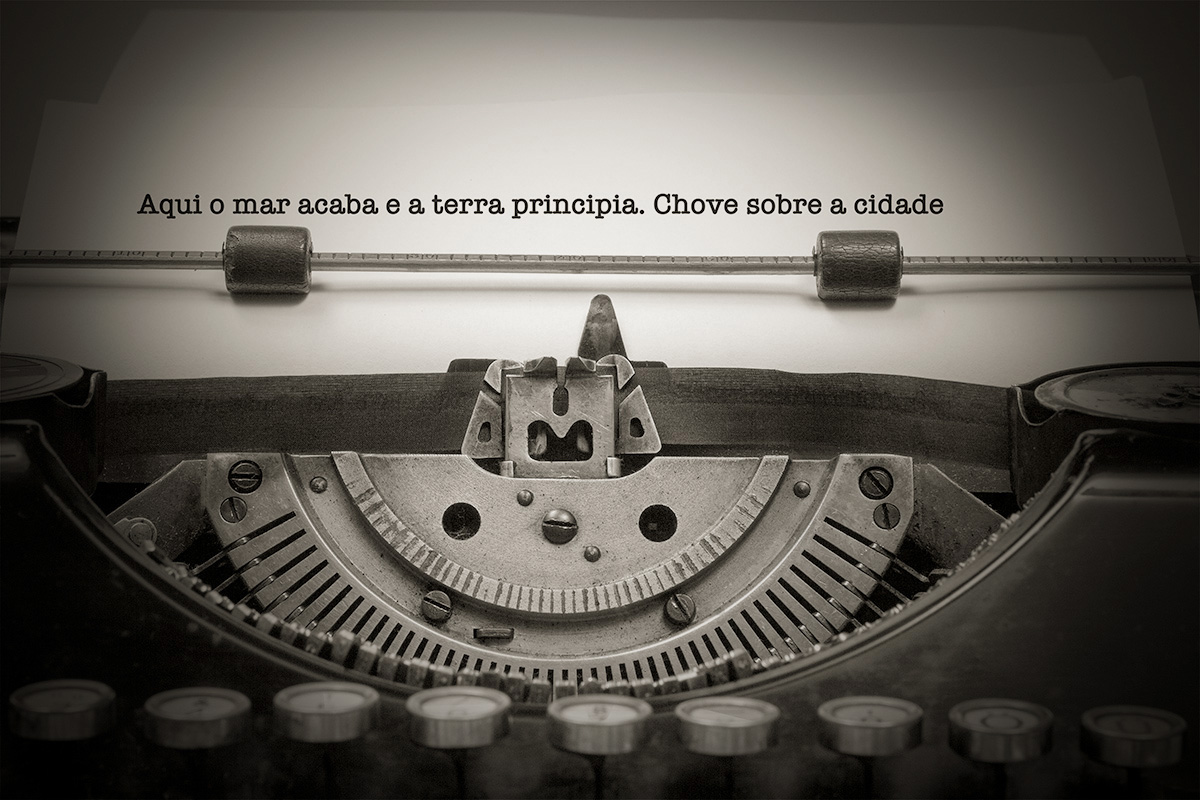
Este aspecto é visível tanto em História do cerco de Lisboa (1989) como em O ano da morte de Ricardo Reis (1984). Seguindo temáticas diferentes (a relação do livro com o impressor, no primeiro, e o questionamento da figura do Autor, no segundo) a presença do sujeito confere ao Livro a qualidade de um ser capaz de produzir a sua própria realidade, sem qualquer referência exterior de carácter «histórico». Assim, na História do cerco de Lisboa, o acrescento de um não à frase «Os cruzados auxiliarão os portugueses a tomar Lisboa» altera a História sem que o romance perca a sua referencialidade, e por esse facto é todo o passado que é alterado em função de um presente que lhe confere uma outra ordem; no Ano da Morte de Ricardo Reis, é o sujeito ficcional (o heterónimo de Pessoa) que se substitui ao seu criador no presente de uma cidade a que a sua «existência» vai dar um peso mítico novo – de um mito que nasce não de uma figura real mas de um ser imaginário, a partir de agora indissociável dos espaços por onde circula o heterónimo que a morte de Fernando Pessoa, o seu criador, paradoxalmente veio restituir à realidade. Nessa deambulação, do cemitério dos Prazeres até à pensão da rua do Alecrim, a Lisboa que surge, tendo como fundo um tempo real (o ano de 1936, em que se desencadeia a guerra de Espanha, que vai alterar a face da Península e da Europa), é uma cidade que vai buscar à literatura a sua legitimação, no início de um processo que a identifica com um personagem mítico – Pessoa, e a sua constelação heteronímica – na sequencia do que já acontecera com Mafra, ligada aos heróis da construção do Convento, ou à conquista de Lisboa, alterada pelo gesto negativo do tipógrafo que introduz o «não» corretor na frase.
De facto, tudo se altera com o que se pode chamar o «projecto Saramago»; e, antes de mais, a relação que o romance estabelece com a realidade. Uma das questões colocadas pela tradição do romance português que vem do realismo de fins do século XIX, e em particular com o romance de Eça de Queiroz, é a sua relação estreita com essa realidade que o vai circunscrever a situações concretas, de que o romance é simultaneamente o reflexo e o produtor. Com efeito, os personagens de Eça, que surgem como retratos de figuras do seu tempo, vão por sua vez produzir figuras reais – diz-se por vezes de tal ou tal personagem da política que é «um conselheiro Acácio», tal como se pode ver em certos personagens dos seus romances uma ilustração de figuras da literatura ou da sociedade do seu tempo. Esta osmose entre literatura e realidade teve, como efeito perverso, que o romance português do século XX tivesse de se confrontar, em permanência, com esse fantasma omnipresente – tanto mais que, de facto, o figurino da Lisboa política e social, como da burguesia provinciana, permaneceu idêntico por virtude da retracção conservadora dos anos ditatoriais.
A opção de Saramago vai conduzi-lo, num primeiro momento, a tomar a História como sujeito – para, depois, retirar esse sujeito do seu palco natural, que é o dos factos e o do passado em que as coisas aconteceram de modo inelutável, e inalterável, colocando-o num espaço e num tempo paralelos, que são os do romance, onde as coisas sucedem noutro – e com outro – sentido, como um relógio de ponteiros desregulados. O que Saramago vai fazer, a partir daí, é encontrar uma outra ordem para que os ponteiros encontrem uma nova sincronia; e o seu projecto passa pelo retomar da escrita como o sujeito desse movimento.
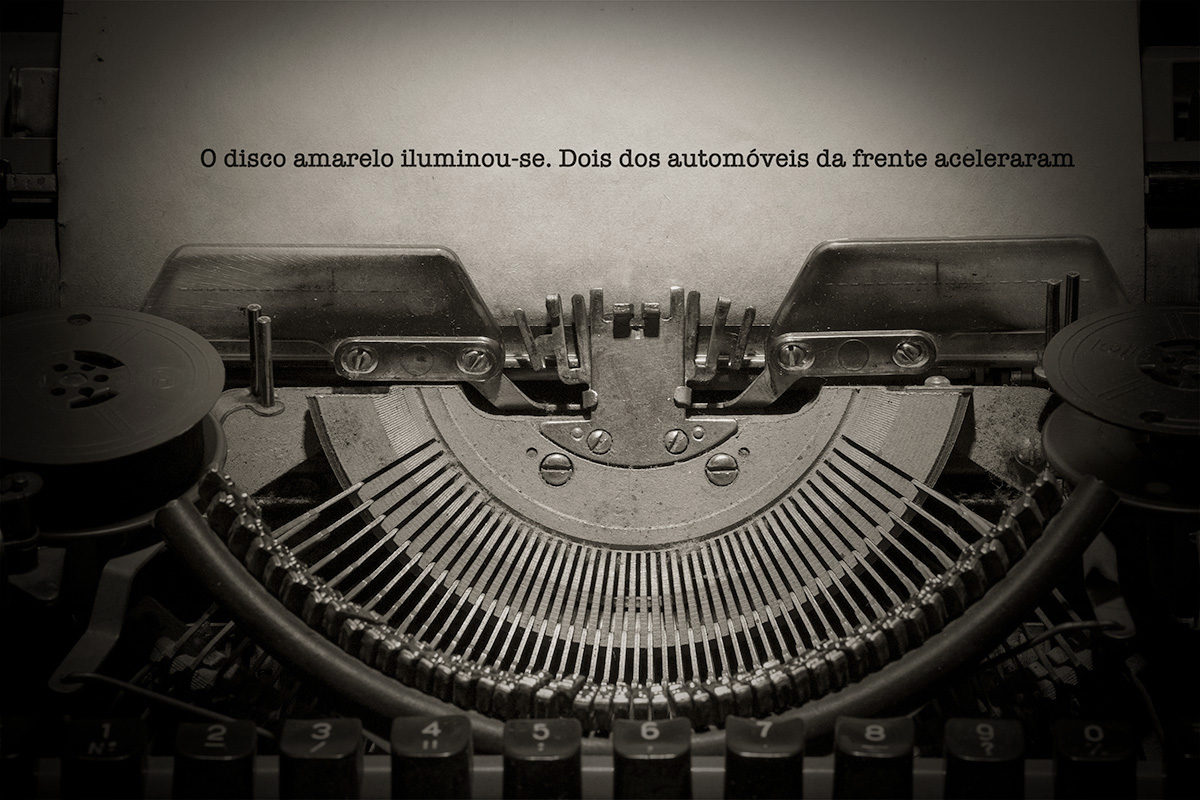
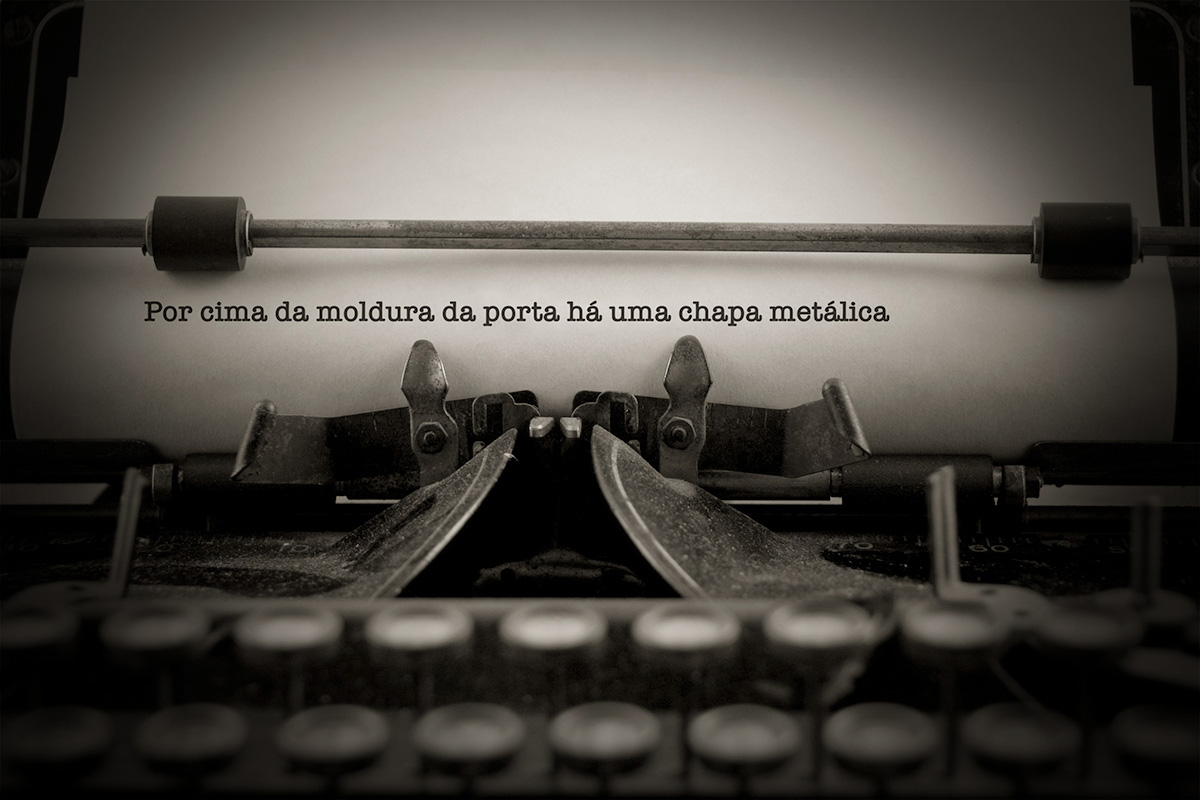
Com efeito, o seu romance é, frequentemente, uma interrogação – aparentemente ingénua – sobre o sentido e a origem das palavras, não no aspecto etimológico, mas no da sua génese na vida do homem, e na relação do homem com o mundo. Essa interrogação vai, no Ensaio sobre a cegueira (1995), nascer de um mundo em que a própria realidade desaparece, no seu aspecto visível, mantendo-se apenas os objectos e a sua ordem como signos; para, em Todos os nomes (1997), se transformar na História do mais fechado e totalitário dos mundos, que é o do Registo Civil, onde a simples presença ou ausência de um nome (e a sua rasura) podem fazer desaparecer o Sujeito.
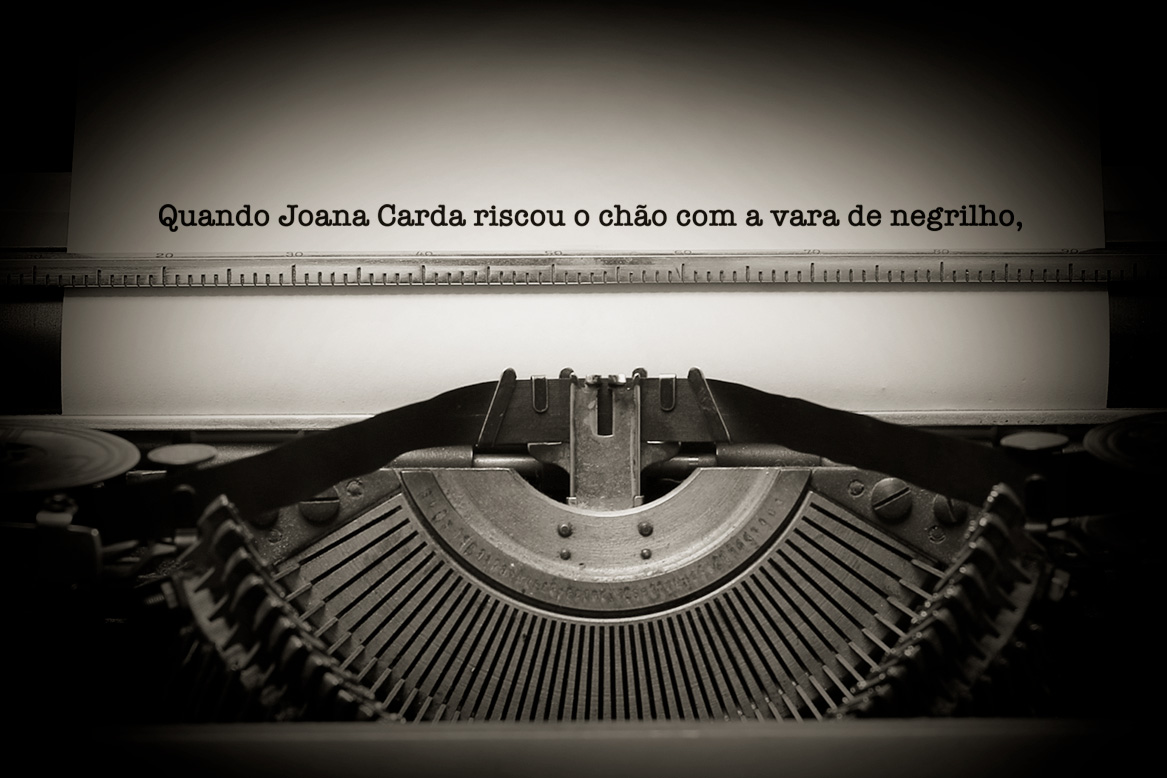
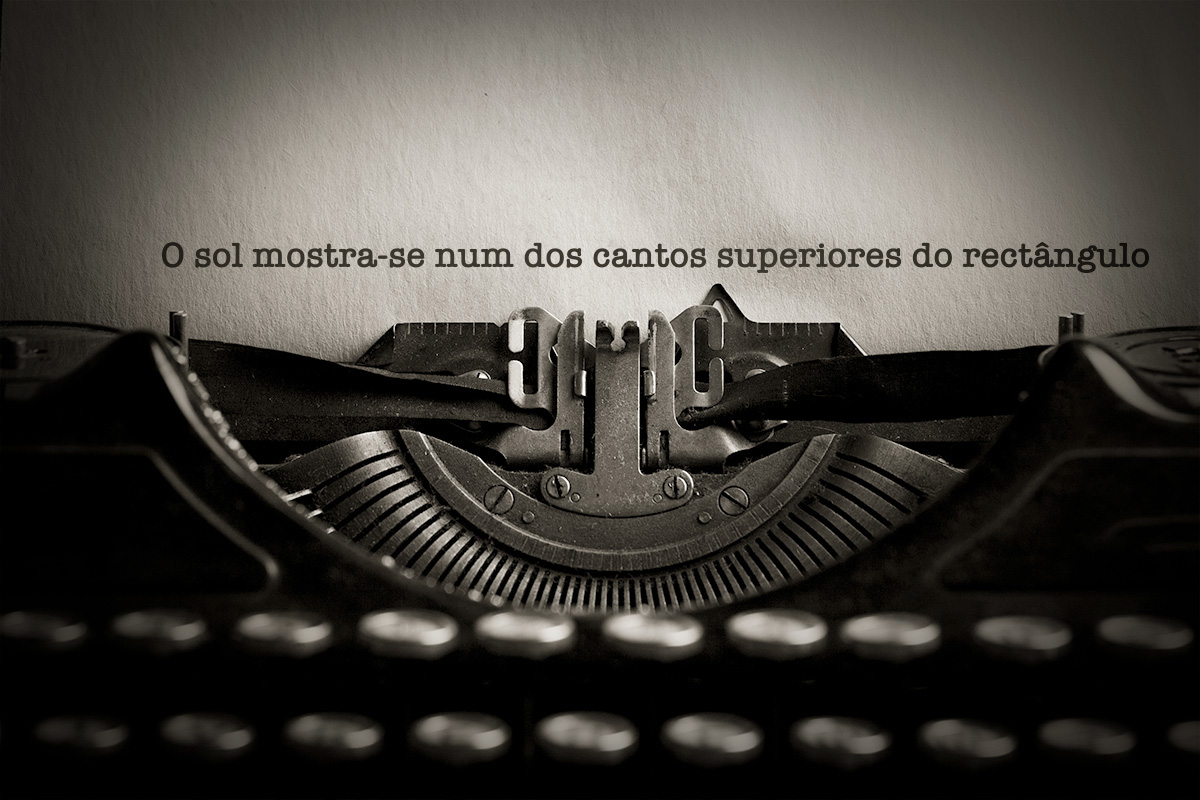
De facto, o que constitui a novidade absoluta do romance de Saramago é essa restituição do universo da ficcção a uma alegoria – muito embora essa alegoria não seja um fim, em si, como sucede na máquina barroca, em que o objecto final esvazia os múltiplos significados que constituem cada um dos membros. Não há, em Saramago, esse objecto final, dado que ele é, sempre, uma problematização do facto que lhe deu origem: a origem do Convento, o nascimento de Portugal, a ligação da Península Ibérica à Europa (em A Jangada de Pedra, 1986), a divindade de Jesus (em O Evangelho segundo Jesus Cristo, 1991), etc… A alegoria funciona aqui como o fogo de artifício – o brilho visível de uma máquina ateada pelas mãos sábias do Mestre que procura criar a ilusão de que esse fogo escapa ao domínio do Criador para, no fim, dar a ver por trás das estruturas queimadas, na sua austeridade constituída pela memória de um fulgor, breve no seu apogeu, e pelo esqueleto que resta, o engenho de quem concebeu o mecanismo do fogo.
Há algo de prometaico nesta escrita que procura, em cada novo romance, levar até ao cimo a pedra do humano, para verificar a Queda como o lado mais prosaico do mito fundador do Homem; e, em paralelo, instalar a escrita como o motor dessa ascensão, restituindo à estória o lugar cimeiro de onde a História a empurrara.
(continua no próximo número)