
Mulheres pelo mundo
Uma mão-cheia de livros de e sobre mulheres que viajam e registam por escrito as suas viagens.
Depois de Mulheres Viajantes, que reunia histórias sobre uma série de mulheres que percorreram lugares e caminhos, tantas vezes contrariando aquilo que delas se esperava (recato, já se sabe…), e parte delas registando esses percursos, Sónia Serrano regressa ao tema com Mulheres Viajantes no País de Salazar. Neste novo livro, a autora percorre oito relatos de viagens empreendidas por mulheres estrangeiras a Portugal, com a particularidade de essas viagens terem acontecido durante o período da ditadura, o que lhes confere um interesse extraordinário relativamente ao modo como o governo de Salazar manipulava, através de diferentes mecanismos de propaganda, a imagem do país no estrangeiro.
Os relatos que aqui se estudam são de Gabrielle Réval, Alice Fullerton, Ann Bridge e Susan Lowndes, Christine Garnier, Mary McCarthy, Elizabeth Younger (com William Younger), Iris Merle e Patricia McGowan Pinheiro (com Peter Fryer). Alguns destes relatos fixam-se mais na paisagem e no património, outros dão atenção maior às pessoas, aos comportamentos, ao modo de habitar o território. A leitura de Sónia Serrano procura em cada um deles as relações com a retórica propagandística do Estado Novo relativamente a Portugal, focando-se no impacto que o turismo elevado a máquina política teve nestes relatos, bem como o peso que o controle efectivo de movimentos por parte do Estado relativamente a quem estava ou chegava ao território português assumiu nos percursos de cada autora e naquilo que puderam ou não ver, e através de que filtros: «Uma das conclusões que se podem tirar da leitura destas obras é a forma como as autoras-viajantes viram em Portugal um país na margem não só geográfica mas também temporal da Europa mais progressista.»
À boleia destes dois livros sobre mulheres viajantes e a respectiva escrita, escolhemos três livros assinados por mulheres que registam viagens muito distintas, colocando em perspectiva algumas ideias cristalizadas sobre a escrita associada à viagem e sobre as especificidades que essa viagem assume – ou não – quando é uma mulher a cumpri-la.

Oriente Próximo
Alexandra Lucas Coelho
Caminho
Oriente Próximo foi o primeiro livro que Alexandra Lucas Coelho publicou, em 2007, com chancela da Relógio D’Água. Ali se reuniam textos que resultaram das suas experiências como jornalista em Israel e nos Territórios Palestinianos Ocupados a partir de 2002, e também na temporada como correspondente do Público em 2005 e 2006. Há um ano, a Caminho voltou a publicá-lo, não exactamente como reedição, mas integrando vários novos textos e alguma reescrita, o que faz deste Oriente Próximo um novo livro. Ou talvez não sejam os acrescentos e a reescrita a fazer deste um outro livro, e sim o contexto: estamos agora em 2025, dezoito anos depois dessa primeira edição, e tudo o que parecia desconcertante no processo de ocupação das terras palestinianas pelo exército israelita, tudo o que já era inaceitável para muita gente, mas não para as instituições internacionais que poderiam, de facto, ter tido uma palavra a dizer nos rumos do mundo, passou de desconcertante a absolutamente trágico.
Lemos, então, Oriente Próximo com as notícias diárias – e sempre filtradas, uma vez que o governo de Israel só permite jornalistas na Faixa de Gaza se estes se prestarem à censura prévia – de uma população cercada, impossibilitada de fugir e diariamente bombardeada. Ouvimos dizer que não se pode falar em genocídio, porque isso seria um exagero, e ficamos sem saber que vocábulo utilizar para o extermínio deliberado de toda uma população, precisamente o que os dicionários apontam como definição dessa palavra proibida. O livro não será sobre o presente, uma vez que as situações descritas, as conversas, os protagonistas remetem para o período entre 2005 e 2007, mas são o presente, o passado e o futuro que atravessam estas páginas, clarividentes quando ao facto de ser inútil engavetar tempos quando o mundo é sempre essa coisa quântica em que esbarramos no que já aconteceu a cada nova hora e em que descobrimos lá atrás o que ainda vai acontecer.
Os muitos textos que compõem Oriente Próximo partilham esta característica de mergulharem de cabeça na complexidade – do lugar, das pessoas, do mundo. São textos que escutam, dão a palavra, procuram, muito mais do que resumem. É essa qualidade que os afasta da efemeridade, e não tanto o presente trágico a que assistimos diariamente pela televisão, pela imprensa ou pelas redes sociais. Ainda assim, e porque lemos sempre num presente qualquer, sem margem para escaparmos a ele, os textos deste livro ecoam agora de outro modo, muito para além do registo de um tempo ou da notícia que já foi.
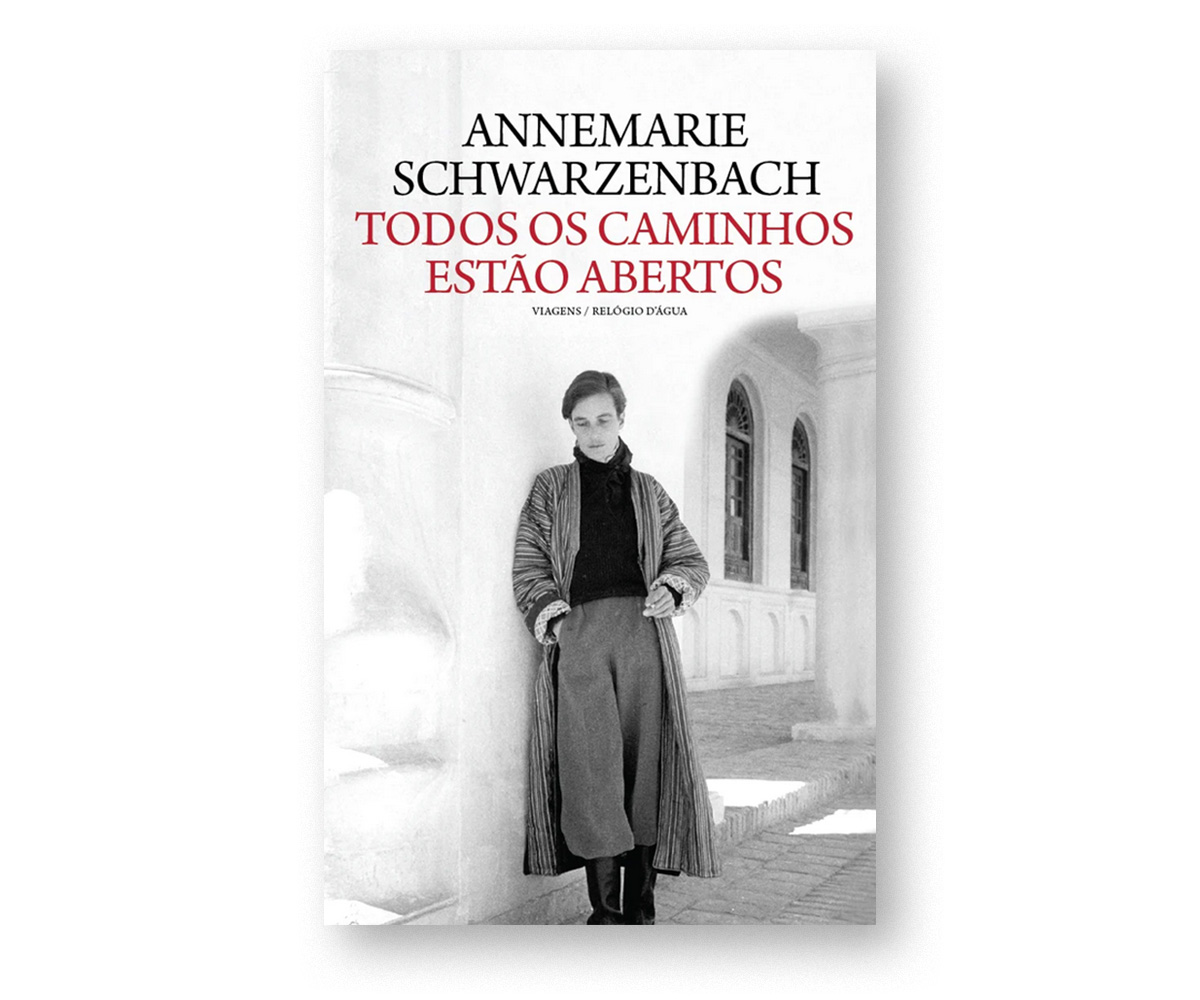
Todos os Caminhos Estão Abertos
Annemarie Schwarzenbach
Relógio D’Água
Tradução de Miguel Serras Pereira
A escritora suíça Annemarie Schwarzenbach deixou-nos uma longa herança de livros, boa parte deles atravessados pela viagem, esse gesto que é de deslocação geográfica, mas que nunca se salva de ser também deslocação temporal, abalo emocional, encontro ou desaparição. Em Junho de 1939, Schwarzenbach saiu de Genebra ao volante de um Ford Roadster Deluxe oferecido pelo seu pai, com a escritora Ella Maillart como companheira de viagem. O destino era o Afeganistão, mas o percurso andou pelos Balcãs, a Turquia e o Irão, isto enquanto a Europa já mergulhara de cabeça na Segunda Guerra Mundial, que em breve se espalharia por vários outros territórios.
O resultado escrito dessa viagem é este conjunto de textos reunido em Todos os Caminhos Estão Abertos, onde se registam os percursos, os imprevistos (e há vários), mas sobretudo as reflexões que cada pedaço de caminho e cada encontro com as pessoas que vivem ou passam pelos locais vão suscitando. A escrita de Annemarie Schwarzenbach tem, neste livro como nos outros, essa característica inquietante de cruzar rigor nas descrições e apuramento histórico-cultural com um pensamento em turbilhão que, a cada momento, convoca memórias, deambulações filosóficas, medos ou desejos dificilmente verbalizáveis: «É possível que eu não tenha um sentido da realidade muito desenvolvido, que me falte um instinto seguro e tranquilizador para os factos tangíveis da nossa existência terrestre, nem sempre consigo distinguir entre as recordações e os sonhos, que ressurgem sob a forma de cores, de odores e de bruscas associações, com a estranha e a secreta certeza de uma vida anterior da qual o tempo e o espaço não me separam mais do que o leve sono das primeiras horas da aurora.» (pg.37)
Rodando pelas estradas, parando em vilas e aldeias sem que um itinerário prévio se imponha, Annemarie Schwarzenbach vai percorrendo as longas estepes e trocando impressões com quem encontra pelo caminho, por um lado como se fosse possível ignorar os ecos da guerra que se vai espalhando e, por outro, com a consciência dolorosa de que esses ecos não são uma ilusão e que, talvez por isso, seja preciso continuar a caminhar, não tanto como fuga, mas como modo de assegurar alguma continuidade do mundo.
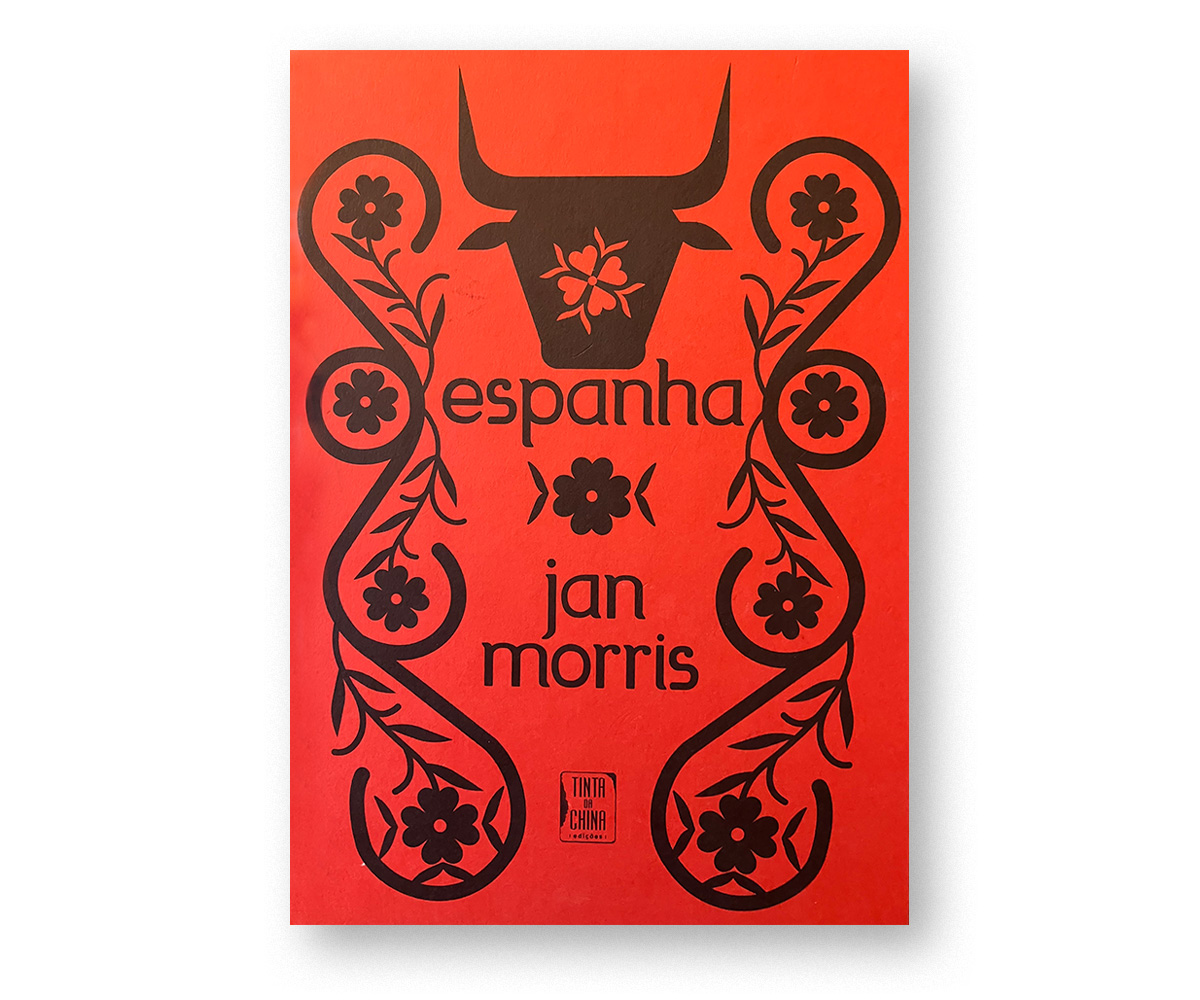
Espanha
Jan Morris
Tinta da China
Tradução de Raquel Mouta
Espanha é uma obra marcadamente datada – e esta não é uma má qualidade –, publicada pela primeira vez em 1964 e atravessada por uma realidade que talvez já não seja totalmente reconhecível por quem visite a Espanha do século XXI. Revisto em 1979, já depois da morte de Franco e da chegada da democracia, o livro dá conta dessa mudança fundamental naquilo que são os seus primeiros fôlegos, deixando em aberto os abalos mais profundos que a nova realidade política trará à sociedade. Apesar de estas marcas cronológicas serem visíveis em todos os capítulos, quando se diz que este é um livro datado não há qualquer intenção de desvalorizar um texto que é todo argúcia no modo como cruza conhecimentos, interesse pelo outro e capacidade de reflexão. Como, aliás, é apanágio da escrita de Jan Morris, particularmente quando se trata de registar as suas múltiplas viagens pelo mundo.
Neste Espanha constatamos o muito que se alterou no país vizinho ao longo dos anos – a Andaluzia já não terá a sua paisagem definida pelas mulas de alforges carregados, as aldeias remotas já não serão tão remotas, o sossego das tabernas castelhanas à hora do calor já se confrontará com vários toques de telemóvel. A contemporaneidade não deixou Espanha incólume, à semelhança de quase todo o mundo, mas o que sobressai na escrita de Jan Morris não é o desfasamento em relação ao passado, e sim a capacidade de tornar o passado um lugar de referência para compreender o presente.
Jan Morris fala das terras espanholas por onde passa e daquilo a que poderíamos chamar a alma de Espanha com um certo desprendimento, por vezes a raiar o desprezo, acentuando a falta de cosmopolitismo, o novo- riquismo que vai crescendo, a dependência moral de um catolicismo que, afinal de contas, sempre comandou tudo. Não é diferente de qualquer espanhol (ou português, ou italiano…) dedicado a apontar defeitos ao seu país quando o que quer é mostrar-lhe os valores. Ao mesmo tempo, a sua devoção à terra é imensa, a comoção perante certas paisagens, pequenos gestos, um ou outro encontro é notória em cada capítulo, e o contraste acaba por engrandecer sobremaneira uma voz narradora tão simultaneamente lúcida e emocional como o país sobre o qual escreve.