 por Luiz Schwarcz
20 Maio 2025
por Luiz Schwarcz
20 Maio 2025
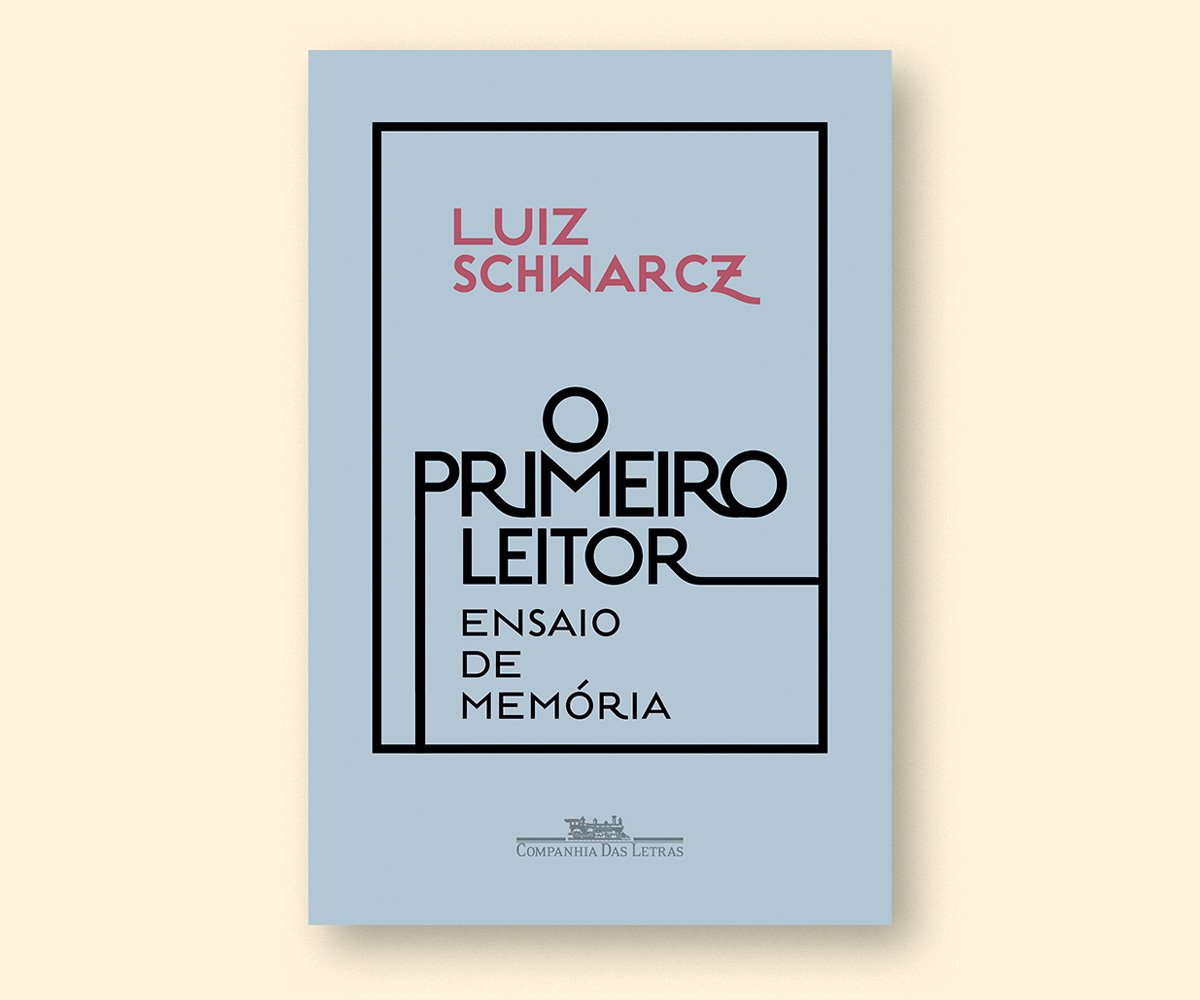
“O começo de tudo”
Fundador da Companhia das Letras, autor de vários livros, Luiz Schwarcz é hoje um dos mais influentes editores do panorama literário mundial. Recebeu em 2017 o Lifetime Achievement Award, pela Feira do Livro de Londres, e em 2024 o Prémio Internacional Cesare De Michelis, por sua contribuição à edição literária. O escritor brasileiro acaba de publicar O primeiro leitor – ensaio de memoria, um apaixonante relato sobre o seu trabalho como editor e a sua relação com autoras e autores, entre eles José Saramago. A Blimunda publica com exclusividade um capítulo do novo livro de Schwarcz.
Aquela era mais uma tarde de calor escaldante, e a pilha de originais, que deveria diminuir ou até sumir — para depois voltar a crescer, com a chegada cotidiana de novos pacotes pelo correio —, dava a impressão de permanecer sempre do mesmo tamanho. Efeito do calor ou do cansaço com a tarefa de ler mais e mais manuscritos, que nunca paravam de chegar? O editor em sua saleta, que ficava nos fundos da gráfica fundada pelo avô, lia o primeiro parágrafo dos livros e passava o lenço na testa. Aquele parágrafo lhe bastava. Sabia se devia continuar a leitura simplesmente a partir da análise daquelas primeiras linhas. Um parágrafo e o livro em questão podia ser descartado, como o suor que ele extirpava do rosto.
O parágrafo acima poderia ter sido o começo de um romance. Minha primeira tentativa de escrever uma narrativa ficcional longa foi frustrada, como todas que se seguiram. Ela efetivamente se iniciava assim. Depois o narrador inventava uma série de aberturas de falsos romances que o suposto editor recebia e rejeitava após a leitura de apenas um parágrafo. Talvez nem seja preciso dizer que o romance pretendia ser uma sátira do mundo editorial. Seu enredo chegaria até a Feira de Frankfurt, para onde o editor desencantado levaria excertos de um romance inexistente, de sua lavra, com resenhas inventadas, listas de mais vendidos fajutas e todo tipo de lorotas — fruto do desgosto dele com os rumos de sua vida profissional. O trote dava certo: o livro fake, idealizado com base no que estava na moda no mercado editorial da época, era vendido para uma dezena de países, e a partir daí o editor se via em apuros. Tinha que voltar para o Brasil e de fato escrever um livro, do qual só possuía a ideia e os trechos utilizados para vender os direitos no templo do comércio editorial. Além do mais, ele era um simples editor, cansado da profissão, e não um escritor talentoso.
Esse romance, graças ao meu senso crítico, nunca foi em frente. Mas ao menos serviu de abertura para este capítulo, no qual pretendo falar do começo dos livros, de um punhado de primeiros parágrafos exemplares, que na minha ficção frustrada tentei ironizar.
Do que precisa um escritor para começar um livro? Como se pode imaginar, não há consenso entre os autores nem sequer diante de uma pergunta, a princípio, tão banal. Dorothy Parker diria que lhe bastaria uma encomenda. Dorothy, assim como um escritor que era tão diferente dela, Louis-Ferdinand Céline, não se acanhava em dizer que escrevia por dinheiro; aliás, os dois declaravam detestar o ofício, e se faziam a mesma pergunta: se não por dinheiro, por que alguém escolheria uma profissão tão penosa? Mas será verdade que sentiam tamanho desprezo pelo que faziam? Nunca saberemos. Muitas vezes não podemos confiar no que afirmam os escritores, especialmente em suas entrevistas.
A partir de uma encomenda, Dorothy Parker, contista por natureza, dizia passar um bom tempo pensando no conto por inteiro, para só depois escrevê-lo. Em mais uma de suas tiradas, revelava buscar o nome dos personagens na lista telefônica e nos obituários dos jornais. Acabou confessando, num momento de menor desprezo pela pobre entrevistadora da Paris Review, que seu famoso conto “Big loira” provavelmente se embasara numa pessoa que conheceu. Logo em seguida, apontou sua verve para as colegas escritoras que militavam num campo diferente de literatura: “Para aquelas que escrevem fantasias […] eu não estou em casa”.
Italo Calvino, um escritor menos sociável do que sua obra deixa transparecer, não perdeu a oportunidade de brincar com seu entrevistador — que, aliás, era seu dileto tradutor para o inglês — ao ressaltar que planejava todos os seus livros em detalhe e que particularmente em O castelo dos destinos cruzados não seguiu o acaso das cartas, no mais calculado de seus livros. Para quem não sabe, a trama de O castelo é baseada no jogo que, curiosamente, nasceu na Itália.
José Saramago também costumava contar que passava meses — depois de ser tomado, ao acaso, por uma ideia — planejando o romance, do começo ao fim. Só se punha a escrever quando o título já estivesse definido, o que, aliás, é muito raro entre escritores. Embora admitisse que, fora do curso do enredo escolhido de antemão, os personagens podiam ditar eles próprios ações, falas e pequenas mudanças, a substância principal estava sempre previamente estipulada. Mas não foi isso que ocorreu no seu livro mais bem-sucedido em termos comerciais, Ensaio sobre a cegueira.
Nesse caso, dizia o grande escritor português, os personagens, de fato, assumiram a condução da trama preconcebida. Segundo também me disse Pilar del Río, foram sobretudo as mulheres do romance que levaram Saramago a mudar completamente o rumo da história, como nunca havia acontecido e numa medida que não voltaria jamais a realizar. Vejamos o que o autor registrou em seus Cadernos de Lanzarote enquanto elaborava o Ensaio:
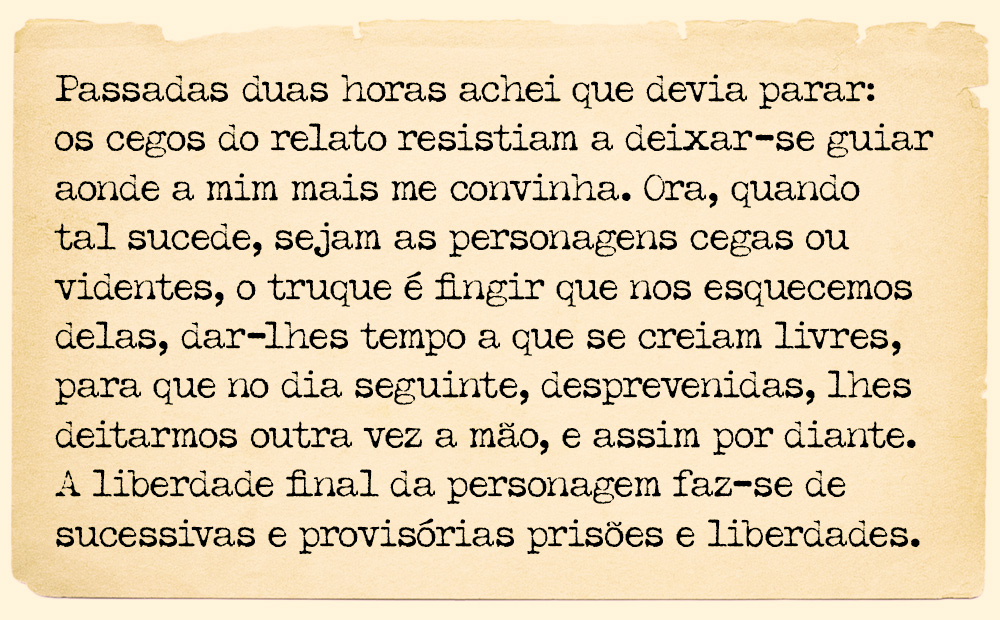
Como podemos notar, as liberdades acabaram sendo maiores do que as prisões. Ao colocar o ponto-final no livro, Saramago, com sua peculiar ironia, afirmou que “da ideia inicial direi que ficou tudo e quase nada”. Os personagens, ainda segundo Saramago, clamaram por humanidade durante a feitura do romance: “Levei demasiado tempo a perceber que os meus cegos podiam passar sem nome, mas não podiam viver sem humanidade”.
Se isso acontece com escritores que procuram planejar em detalhe seus livros, podemos imaginar o que ocorre com outros que se sentam à escrivaninha apenas com uma intuição, ou com um personagem que aparece até antes da história na qual será protagonista. John Cheever garantia trabalhar assim. E.M. Forster teria um parti pris ainda mais solto. O autor de Passagem para a Índia é citado por Saul Bellow — na entrevista que o norte-americano concedeu à Paris Review — por ter uma vez afirmado: “Como vou saber o que penso até ver o que digo?”.
Bellow usava a frase de Forster para explicar que, ao escrever, libertava o comentarista que havia dentro dele, para o qual precisava preparar o terreno. Só assim o “comentarista primitivo”, que vivia guardado em sua mente, se lembraria de cores, sapatos, falas, ou de palavras, que talvez nunca tivesse visto ou ouvido.
Assim, o passado serve de sombra ao escritor — tanto aquele armazenado na memória como o personificado pela frase recém-escrita no papel ou na tela, e que clama por continuação. Hemingway explicou que, muitas vezes, uma história se faz no caminho do livro, onde “tudo muda enquanto se move”.
Ricardo Piglia também é dessa opinião. Em seus diários, ele escreveu: “Como saber qual é a melhor entre todas as histórias possíveis que surgem enquanto estamos narrando? Sempre é uma questão de tomar decisões, narrar é tomar decisões. Nunca sei como será a história enquanto não a escrevo. E enquanto a escrevo, eu me deixo levar pela intuição e pelo ritmo da prosa”.
Anos atrás escrevi contos que hoje renego, em sua maior parte, e que possuíam algum conteúdo memorialístico. Num deles, o narrador, um menino, se lembra de quando assistia, sentado no chão, às aulas de história da pintura que a mãe dele promovia, para um grupo de amigas, na sala de jantar de sua casa. A professora tinha uma perna amputada, o que atraía a atenção do narrador sempre que ele espiava embaixo da mesa e via um número ímpar de pernas. Eu, de fato, assistia a essas aulas, e me sentava ora no colo da minha mãe ora no chão. No conto, olhava para a professora de arte. Debaixo da mesa ouvia o seu forte sotaque italiano, e olhando para suas pernas pensava na que faltava. Qual teria sido o real impacto daquela cena na minha infância? Teria eu me impressionado com a perna faltante da professora a ponto de o fato me conduzir a ficcionalizá-lo? Ou me recordei apenas pela vaidade da narrativa, por ser a imagem guardada na memória propícia ao momento da literatura, útil ao conto em questão, no qual eu buscava configurar o personagem como um menino solitário, um filho único, um número ímpar como as pernas da mestra?
Mais uma vez a resposta fica em aberto. Sei apenas que se Descartes tivesse sido um ficcionista, e não um filósofo, seria uma destas frases que teria ficado para a história: “Lembro, logo escrevo” ou “Escrevo, logo penso”.
Voltando para o tema central deste capítulo, para qualquer escritor ou escritora a abertura do livro é vital.
Em seu denso e belíssimo livro Beginnings, Edward Said argumenta que antes de qualquer começo há sempre a ideia de começar. A abertura de um romance pode ser considerada sempre um recomeço, o momento em que, a partir de laços adquiridos previamente e comuns ao leitor e ao autor, se estabelecem a voz do narrador e sua autoridade.
Amos Oz, em The Story Begins, explica que o primeiro parágrafo é onde se instala um contrato entre autor e leitor. Contrato que poderá ser desrespeitado — e isso acontece em boa parte dos casos — durante a confecção do texto ou no transcorrer da sua leitura.
Oz diz que a página que receberá as primeiras linhas de um livro é para o escritor como um muro branco, sem portas nem janelas. Para ele, começar a contar uma história é como “tentar seduzir uma pessoa desconhecida, que vemos pela primeira vez, sozinha num bar”.
O livro sobre um editor infeliz que nunca cheguei a escrever tinha alguma base real. Sem dúvida, um profissional tarimbado principia avaliando um livro por seu parágrafo de abertura e, em inúmeros casos, é capaz de intuir a partir daí se deve continuar. É verdade que certos inícios podem estar muito aquém do conteúdo total do livro. Oz cita o caso de Noites brancas, novela de Dostoiévski, cujo começo é banal ou até sentimental. Ele se pergunta então: o fato de a tarefa de começar um livro ser tão difícil é o motivo que leva alguns autores a desistirem no meio do esforço? Será por isso que iniciam seus livros sem um parágrafo realmente significativo? “Só Deus sabe”, ele afirma, “quantos rascunhos e mais rascunhos vieram antes da frase inicial, tendo sido destruídos, abandonados, rabiscados, amassados, jogados no fogo, na privada, até que finalmente ficou decidido que é isso, agora vai.”
Mas a questão não é tão simples assim. Segundo o escritor israelense, temos que ficar atentos: em Noites brancas a narração em primeira pessoa se constrói a partir do ponto de vista de um personagem sentimental, e o começo simplório pode ter sido premeditado, isto é, propositalmente banal, para estabelecer o tom da narrativa.
Nesse sentido, a ideia do contrato entre autor e leitor permanece de pé. A metamorfose de Kafka, por exemplo, pede um acordo imediato com o narrador, para que entremos no mundo fantástico do autor. Na tradução de Modesto Carone, lemos:
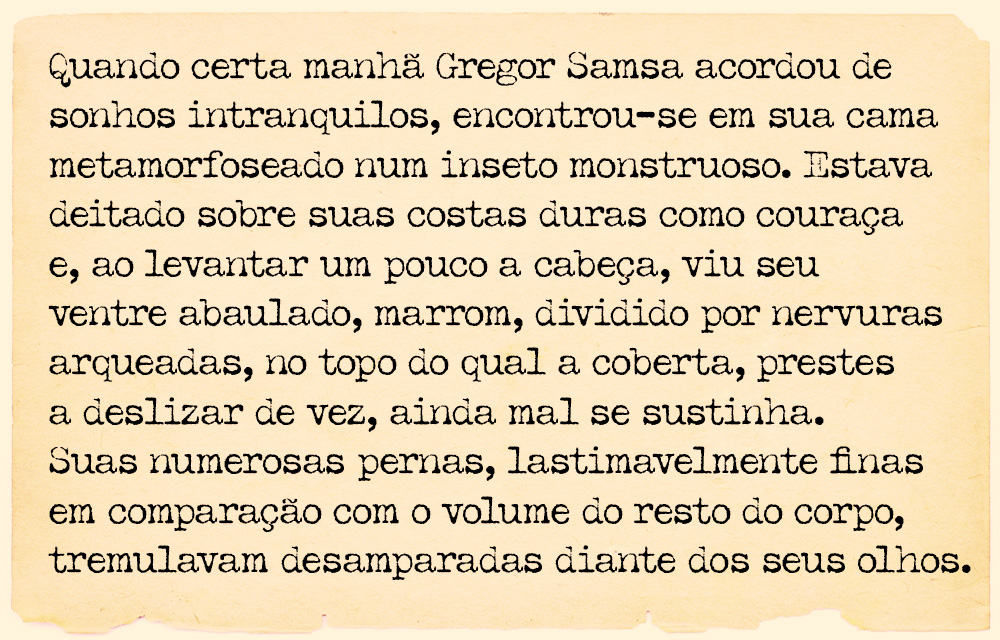
Trata-se de um dos começos de livro mais emblemáticos de todos os tempos. Nele, o acordo não se romperá até o final. O escritor tcheco sempre nos convida para um mundo do qual não podemos sair. Até chegar ao ponto em que encerra a narrativa. Mesmo assim, aposto que os leitores dessa fábula fantástica demoraram para deixar o livro e voltar para o seu cotidiano, ou então, ao retornar, já não eram os mesmos.
Cada um de nós tem guardados na memória os começos de livros que mais nos marcaram. Oz cita vários de sua predileção, mas menciona muito especialmente o parágrafo inicial da Divina comédia, de Dante, que considera a abertura ideal para todos os livros, ou mesmo a metáfora perfeita para a situação em que se encontra o escritor ao começar a escrever sua obra. “No meio do caminho desta vida/ me vi perdido numa selva escura,/ solitário, sem sol e sem saída.”
Ao pensar neste capítulo, tentei voltar às aberturas de romances que mais me impressionaram e de cara lembrei como Albert Camus inicia um dos livros favoritos da minha vida: “Hoje minha mãe morreu. Ou talvez ontem, não sei bem. Recebi um telegrama do asilo: ‘Sua mãe falecida. Enterro amanhã. Sentidos pêsames’. Isso não quer dizer nada. Talvez tenha sido ontem”.
O contrato entre autor e leitor de O estrangeiro se delineia aí. Além disso, do acordo que a obra propõe fazem parte a indiferença de Meursault pela morte da mãe, o fato de não ter chorado no seu sepultamento, e a presença constante do sol e do calor, que acompanharão o narrador em várias passagens do livro, do enterro a um crime cometido por ele, do crime a seu julgamento, do julgamento à sua prisão.
Nada do passado importa, só o presente e o acaso. Porém, seguindo o raciocínio de Amos Oz, haverá um momento em que esse acordo se quebrará. Vemos que o contrato proposto por Camus é cumprido à risca durante boa parte o livro, pelas reiterações que apontei. No entanto, isso mudará no final. Ao ser preso, Meursault diz: “Senti que minha casa é minha cela, e que a vida parava aí”. Depois o personagem viverá exclusivamente do passado, e afirma que se tivesse apenas um dia para preencher suas lembranças, esse único dia lhe bastaria. A quebra de contrato se dá no fim do livro. O passado conta sim, e a morte da mãe não passa incólume, como o descaso do primeiro parágrafo ou a falta de lágrimas de Meursault no enterro procuram deixar entrever.
Dessa forma, vale prestar atenção nas aberturas dos livros, como o fazem, para o bem e para o mal, os editores. O começo genial de Anna Kariênina, lembrado por Oz, é também bastante interessante e conhecido. Sem se aprofundar no porquê, o escritor israelense diz que Tolstói contradiz, durante o livro, a frase com que inicia seu romance: “Todas as famílias felizes se parecem, cada família infeliz é infeliz à sua maneira”. Esse contrato, que ele chama de filosófico, quebra-se com o andamento do livro.
Entendo que Oz quis dizer que o romance de Tolstói é tão rico que prova que nem na felicidade somos todos iguais. Ou até que a frase poderia ser invertida e iniciar o mesmo romance com a afirmação de que somos iguais na infelicidade e singulares na alegria.
A mim agradam os começos que desautorizam ou relativizam o poder do narrador, como o fazem de modo genial Miguel de Cervantes, Laurence Sterne e Machado de Assis, em Dom Quixote, A vida e as opiniões do cavalheiro Tristram Shandy e Memórias póstumas de Brás Cubas. Neles, o leitor já é avisado de que o contrato firmado não é dos mais confiáveis, ou está sendo assinado por um narrador pouco idôneo, de quem não compraríamos nem uma caixa de fósforos. Será quebrado na linha seguinte, ou mesmo poucos parágrafos depois. Além dos romances citados, o início de livro mais marcante em minha vida talvez tenha sido o de O jogo da amarelinha, de Julio Cortázar:
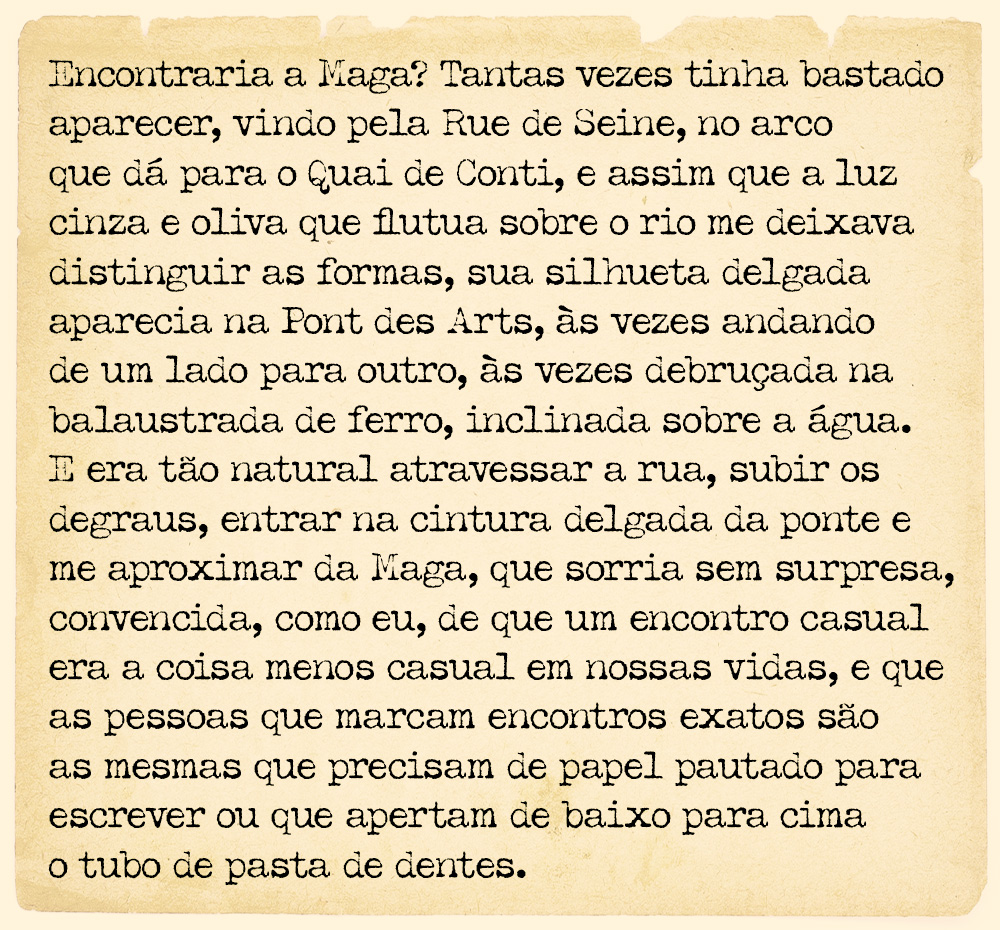
É assim que o autor argentino começa um romance no qual propõe que o leitor escolha duas ordens possíveis para seguir os capítulos. É quase um convite explícito para encontrar a história de surpresa, sem hora ou lugar marcado, como faziam, nas ruas de Paris, e nas margens do Sena, o narrador Horacio Oliveira e sua misteriosa amiga Maga. Afinal, não é esse tipo de encontro, ao acaso, que procuramos ao iniciar qualquer livro?
*Luiz Schwarcz nasceu em São Paulo, em 1956. Fundou a Companhia das Letras em 1986. É autor dos livros infantis Minha vida de goleiro (1999) e Em busca do Thesouro da Juventude (2003), das coletâneas de contos Discurso sobre o capim (2005) e Linguagem de sinais (2010), e de O ar que me falta (2021).